Processos
Espaço do servidor
Pró-Ser
Gestão de Desempenho
Ministros
Gestão de Documentos
Jurisprudência
Pesquisa
Súmulas
Outros
- Legislação Aplicada
- Vocabulário Jurídico
- Informativo de Jurisprudência
- Jurisprudência em Teses
- Repetitivos e IACs Organizados por Assunto
- Íntegra de Acórdãos
- Revista Eletrônica de Jurisprudência
- Repositórios autorizados de Jurisprudência
Publicações
Biblioteca
Entidades Relacionadas
Sessão de Julgamento
Serviços
Certidões
SISBAJUD
Legislação
Visitação ao STJ
Concursos e estágios
Ouvidoria
Ajuda
Informativo de Jurisprudência
Filtrar Resultados
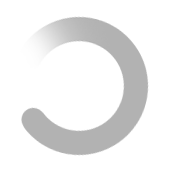
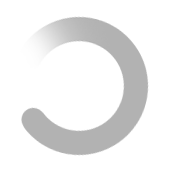
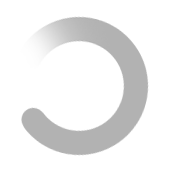
Coletâneas anuais
Anuário por Ramos do Direito:
Edições Anuais Compiladas:
Edição comemorativa dos 35 anos do STJ - Volume II
3 de abril de 2024
AREsp 1.407.431-RS, julgado em 14/5/2019, DJe 21/5/2019.
DIREITO ADMINISTRATIVO
O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato.
Cinge-se a controvérsia a definir se, em concurso público com reserva de vagas para negros e pardos, há de prevalecer a ascendência e o genótipo ou se a Administração Pública pode usar de critério fenotípico e rejeitar a inscrição em concorrência específica.
Inicialmente cumpre salientar que a Lei n. 12.990/2014 estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo, contudo, um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação realizado por comissão de verificação de constituição plural.
No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41/DF, rel. Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 2º da Lei n. 12.990/2014.
Naquela assentada, o relator dedicou capítulo específico para tratar do controle de fraudes realizadas pelos concorrentes, definindo 1) como pode ocorrer a autodeclaração, 2) qual o critério que deve prevalecer? Genótipo ou fenótipo? e, 3) a possibilidade do controle da autodeclaração mediante heteroidentificação: "dentre todas as opções, a que parece menos defensável é o exame do genótipo, uma vez que o preconceito no Brasil parece resultar, precipuamente, da percepção social, muito mais do que da origem genética. A partir desse ponto, porém, a eleição de determinado critério parece envolver avaliações de conveniência e oportunidade, sendo razoável que sejam levados em conta fatores inerentes à composição social e às percepções dominantes em cada localidade".
Naquele julgado, validou-se o fenótipo como critério definidor do direito à concorrência especial, autorizando em princípio que essa afirmação fosse feita por autodeclaração do próprio candidato, mas submetida, se necessário, a um procedimento de validação por comissão especial do certame.
Assim, o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato.
Lei n. 12.990/2014, art. 2º.
Saiba mais:
REsp 1.852.629-SP, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Veículo de imprensa jornalística possui direito líquido e certo de obter dados públicos sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais.
Trata-se de discussão sobre o pedido de acesso à informação mantida pelos órgãos públicos por meio dos veículos de imprensa, para produção de reportagem noticiosa. Tal reportagem pretende aceder a informações especificadas quanto a óbitos associados a boletins de ocorrência policial.
Inicialmente, destaque-se que descabe qualquer tratamento especial à imprensa em matéria de responsabilização civil ou penal, em particular, para agravar sua situação diante da generalidade das pessoas físicas ou jurídicas. É o que se assentou no julgamento da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, não se pode conceber lei, ou norma, que se volte especificamente à tutela da imprensa, para coibir sua atuação. Se há um direito irrestrito de acesso pela sociedade à informação mantida pela administração, porquanto inequivocamente pública, não se pode impedir a imprensa, apenas por ser imprensa, de a ela anuir.
No entanto, o acórdão recorrido vai além, e efetivamente faz controle prévio genérico da veiculação noticiosa. Não se está diante sequer de um texto pronto e acabado, hipótese em que, de modo já absolutamente excepcional, poder-se-ia cogitar de apreciação judicial dos danos decorrentes de sua circulação, a ponto de vedá-la. Na hipótese, a censura judicial prévia inviabiliza até mesmo a apuração jornalística, fazendo mesmo secreta a informação reconhecidamente pública.
É preciso reforçar a distinção entre duas questões tratadas pelo acórdão do Tribunal de origem como uma única. De um lado, cuida-se da atividade jornalística de veiculação noticiosa. Nesse ponto, é já inconcebível dar aspecto de juridicidade a qualquer forma de controle prévio da informação.
Além disso, trata-se de acesso à informação pública, não apenas de atuação jornalística. A qualidade da última pode até depender da primeira, mas nada influencia no direito de aceder a dados públicos o uso que deles se fará. Não há razão alguma em sujeitar a concessão da segurança ao risco decorrente da divulgação da informação - que, reitere-se, é pública e já disponível na internet. Não há nem mesmo obrigação ou suposição de que a informação - pública - venha a ser publicada pela imprensa.
A informação pública é subsídio da informação jornalística, sem com ela se confundir em qualquer nível. Os dados públicos podem ser usados pela imprensa de uma infinidade de formas, como base de novas investigações, cruzamentos, pesquisas, entrevistas, etc.; nenhuma delas correspondendo, direta e inequivocamente, à sua veiculação. Não se pode vedar o exercício de um direito - acessar a informação pública - pelo mero receio do abuso no exercício de um outro e distinto direito - o de livre comunicar. Configura-se verdadeiro bis in idem censório, ambos de inviável acolhimento diante do ordenamento.
REsp 560.723-SC, julgado em 4/11/2003, DJe 15/12/2003.
DIREITO ADMINISTRATIVO
É possível o levantamento do saldo das contas vinculadas ao FGTS para custear tratamento de criança vivendo com o vírus HIV (dependente da titular).
Sobre o tema, esta Corte já decidiu que "não viola disposições das leis ns. 9.670/1988 e 8.036/1990, esta última alterada pela lei n. 8.922/1994, a decisão que, dando-lhes interpretação sistemática e aplicação extensiva, admite a possibilidade de levantamento do saldo de conta vinculada ao PIS, para que o seu titular possa proporcionar tratamento médico à filha dependente, vivendo com o vírus do HIV." (REsp n. 380.506/RS, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, unanimidade, DJe 8/4/2002).
Ademais, o texto da Lei n. 8.036/1990, em seu art. 20, XIII, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.164/2001 traz a seguinte redação: "Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: (...) XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV".
REsp 1.269.494-MG, julgado em 24/9/2013, DJe 1º/10/2013.
DIREITO AMBIENTAL
O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.
Segundo a doutrina, não é essencial à caracterização do dano extrapatrimonial coletivo prova de que houve dor, sentimento, lesão psíquica, afetando "a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas" ou "tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado".
E não poderia ser diferente porque as relações jurídicas caminham para uma massificação, e a lesão aos interesses de massa não podem ficar sem reparação sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do direito como forma de prevenir e reparar os conflitos sociais.
A reparação civil segue em seu processo evolutivo, iniciado com a negação do direito à reparação do dano moral puro para a previsão de reparação de dano a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ao lado do já consagrado direito à reparação pelo dano moral sofrido pelo indivíduo e pela pessoa jurídica (cf. Súmula n. 227/STJ).
O dano moral deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo.
O dano extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, aos seus costumes, às suas tradições e ao seu direito a um meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.
Essas decorrem do sentimento de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo. Assim sendo, reconhece-se a possibilidade de existência de dano extrapatrimonial coletivo, podendo o mesmo ser examinado e mensurado.
Saiba mais:
REsp 1.071.741-SP, julgado em 24/3/2009, DJe 16/12/2010.
DIREITO AMBIENTAL
A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é objetiva, ilimitada e solidária, mas de execução subsidiária.
À luz da Constituição Federal de 1988, ao Estado a ordem jurídica abona, mais na fórmula de dever do que de direito ou faculdade, a função de implementar a letra e o espírito das determinações legais, inclusive contra si próprio ou interesses imediatos ou pessoais do administrador.
Na sua missão de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, como patrono que é da preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, incumbe ao Estado "definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção" (Constituição Federal, art. 225, § 1º, III).
Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial, como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional.
O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= dever-poder de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente).
Nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação "os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização", além de outros a que se confira tal atribuição. Quando a autoridade ambiental "tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade" (art. 70, § 3°, da Lei 9.605/1998).
Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não se desincumbe do dever-poder de fiscalização ambiental (e também urbanística) o administrador que se limita a embargar obra ou atividade irregular e a denunciá-la ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando ou desprezando outras medidas, inclusive possessórias, que a lei põe à sua disposição para eficazmente fazer valer a ordem administrativa e, assim, impedir, no local, a turbação ou o esbulho do patrimônio estatal e dos bens de uso comum do povo, resultante de desmatamento, construção, exploração ou presença humana ilícitos. A turbação e o esbulho ambiental-urbanístico podem - e no caso do Estado, devem - ser combatidos pelo desforço imediato, medida prevista atualmente no art. 1.210, § 1º, do Código Civil de 2002 e imprescindível à manutenção da autoridade e da credibilidade da Administração, da integridade do patrimônio estatal, da legalidade, da ordem pública e da conservação de bens intangíveis e indisponíveis associados à qualidade de vida das presentes e futuras gerações.
O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer "pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981). Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem.
A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa. No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência). A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil).
Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambiental, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução subsidiária do Estado - sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a internalização das externalidades ambientais negativas - substituir, mitigar, postergar ou dificultar o dever, a cargo do degradador material ou principal, de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos causados.
Saiba mais:
REsp 610.114-RN, julgado em 17/11/2005, DJe 19/12/2005.
DIREITO AMBIENTAL
Responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais. Crime ambiental. Lei n. 9.605/1998. Responsabilização penal da pessoa jurídica. Possibilidade. Prática com intervenção de uma pessoa física. Atuação em nome e em benefício do ente moral. Corresponsabilidade. Acusação Isolada do ente coletivo. Impossibilidade. Denúncia inepta.
A pessoa jurídica só pode ser responsabilizada por crime ambiental quando houver intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em benefício do ente moral.
A Constituição Federal de 1988, consolidando uma tendência mundial de atribuir maior atenção aos interesses difusos, conferiu especial relevo à questão ambiental, ao elevar o meio ambiente à categoria de bem jurídico tutelado autonomamente, destinando um capítulo inteiro à sua proteção. Em seu art. 225, § 3º, a Carta Constitucional passou a prever a criminalização das condutas lesivas causadas ao meio ambiente fossem os infratores pessoas físicas ou jurídicas.
Feita a opção constitucional pela responsabilização da pessoa jurídica, dez anos após, veio à lume a Lei n. 9.605/1998, regulamentando o disposto no referido § 3º do art. 225 da CF/1988 e prevendo, de forma inequívoca, a possibilidade de penalização criminal das pessoas jurídicas por danos ao meio ambiente.
A incriminação dos verdadeiros responsáveis pelos eventos danosos ambientais, no entanto, nem sempre é possível, diante da dificuldade de se apurar, no âmbito das pessoas jurídicas, a responsabilidade dos sujeitos ativos dessas infrações.
A imputação penal às pessoas jurídicas encontra barreiras na suposta incapacidade de praticarem uma ação de relevância penal, de serem culpáveis e de sofrerem penalidades. Assim, se a pessoa jurídica tem existência própria no ordenamento jurídico e pratica atos no meio social, poderá vir a praticar condutas típicas e, portanto, ser passível de responsabilização penal, tal como ocorre na esfera cível.
É certo que não se pode compreender a responsabilização da pessoa jurídica dissociada da atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo próprio (dolo ou culpa). Segundo a doutrina, "em princípio, sempre que houver a responsabilidade criminal da sociedade estará presente também a culpa do administrador que emitiu o comando para a conduta. Do mesmo modo o preposto que obedece à ordem ilegal, como de resto o empregado que colabora para o resultado".
Os critérios para a responsabilização da pessoa jurídica são classificados na doutrina como explícitos: 1) que a violação decorra de deliberação do ente coletivo; 2) que autor material da infração seja vinculado à pessoa jurídica; e 3) que a infração praticada se dê no interesse ou benefício da pessoa jurídica; e implícitos no dispositivo: 1) que seja pessoa jurídica de direito privado; 2) que o autor tenha agido no amparo da pessoa jurídica; e 3) que a atuação ocorra na esfera de atividades da pessoa jurídica.
Disso decorre que a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada quando houver intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em benefício do ente moral, conforme o art. 3º da Lei n. 9.605/1998. A doutrina ressalta que "de qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser beneficiária direta ou indiretamente pela conduta praticada por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado".
Essa atuação do colegiado em nome e proveito da pessoa jurídica é a própria vontade da empresa. Porém, tendo participado do evento delituoso, todos os envolvidos serão responsabilizados na medida de sua culpabilidade. É o que dispõe o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 9.605/1998, que institui a corresponsabilidade.
A Lei Ambiental, com efeito, previu para as pessoas jurídicas penas autônomas de multas, de prestação de serviços à comunidade, restritivas de direitos, liquidação forçada e desconsideração da pessoa jurídica.
As penas restritivas de direitos consistem em suspensão parcial ou total de atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações. As penas de prestação de serviços à comunidade, por seu turno, se consubstanciam em custeio de projetos ambientais; recuperação de áreas degradadas; contribuições a entidades ambientais, etc.
Ademais, independentemente da teoria que se adote para definir a natureza jurídica da pessoa moral (da ficção, da realidade objetiva ou da realidade jurídica), é incontroversa a existência de duas pessoas distintas: uma física - que de qualquer forma contribui para a prática do delito - e uma jurídica, cada qual recebendo a punição de forma individualizada, decorrente de sua atividade lesiva.
Não obstante alguns obstáculos a serem superados, a responsabilização penal da pessoa jurídica é um preceito constitucional, posteriormente estabelecido, de forma evidente, na lei ambiental, de modo que não pode ser ignorado.
Por fim, não obstante o entendimento no sentido de que o princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública, relativamente aos delitos ambientais - para os quais o art. 3º da Lei n. 9.605/1998 deixa clara a vinculação da responsabilidade da pessoa jurídica à atuação de seus administradores, quando agem no interesse da sociedade - faz-se necessária a descrição da participação dos seus representantes legais ou contratuais ou de seu órgão colegiado na inicial acusatória.
A identificação da atuação das pessoas físicas é importante como forma de se verificar se a decisão danosa ao meio ambiente partiu do centro de decisão da sociedade ou de ação isolada de um simples empregado, para o qual a pessoa jurídica poderia responder por delito culposo (culpa in eligendo e culpa in vigilando), recebendo penalidades menos severas daquelas impostas a título de dolo direito ou eventual, advindos da atuação do centro de decisão da empresa.
Nesse contexto, a denunciação da pessoa jurídica só poderá ser efetivada depois de identificadas as pessoas físicas que, atuando em seu nome e proveito, tenham participado do evento delituoso. A ausência desses elementos, portanto, inviabiliza o recebimento da exordial acusatória, por ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Saiba mais:
Processo em segredo de justiça, julgado em 9/10/2012, DJe 18/10/2012.
DIREITO CIVIL
A legislação especial, ao conferir direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, subsiste diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal direito àqueles que convivem em união estável.
O direito real de habitação confere ao seu titular a utilização do bem, com fim de que nele seja constituída a sua residência. Substancia-se, assim, o direito à moradia previsto no art. 6° da Constituição Federal.
Não há norma expressa no Código Civil que assegure o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Entretanto, o silêncio não é eloquente, pois a evolução jurídica do instituto indica que este é aplicável, também, à união estável.
A Lei n. 4.121/1962 - Estatuto da Mulher Casada - estabeleceu, no § 2°, art. 1.611 do Código Civil de 1916, o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente casado sob a comunhão universal de bens - regime legal à época da modificação legislativa.
Com a edição da Lei n. 6.515/1977, o regime legal passa a ser o da comunhão parcial de bens e não se verifica alteração legislativa sobre o direito real de habitação, que continua adstrito à comunhão universal.
Posteriormente, com a inserção do art. 7° da Lei n. 9.278/1996 no ordenamento jurídico, o companheiro sobrevivente passa a fazer jus ao aludido direito real de habitação. Assim, exsurge notável contradição: ao cônjuge supérstite casado pelo regime legal - comunhão parcial -, não lhe é conferido o direito real de habitação, mas ao companheiro sobrevivente sim. Dessa maneira, a legislação, até então vigente, colocou o optante da união estável em situação mais vantajosa do que aquele que preferiu constituir a sua família por meio do casamento, em franco descompasso com a orientação traçada pelo art. 226, § 3°, da Constituição Federal.
Deparando-se com esta antinomia, o legislador, com fim de conformar a ordem jurídica legal com a orientação constitucional, estabelece que, em qualquer regime de bens, será assegurado o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente (art. 1.831 do CC/2002). Percebe-se que o Legislador desejou ampliar a incidência de tão elevado direito a todos os regimes de casamento, tendo em vista que o direito à moradia afigura-se como uma das diversas matizes do princípio da dignidade humana.
Assim, interpretar que o direito real de habitação não é mais aplicável à união estável, em face de sua revogação pelo Código Civil de 2002, afigura-se hermenêutica inadequada, pois implicaria uma catagênese do direito social/fundamental, que é repelida, veementemente, pela teoria da proibição do retrocesso, já que o âmbito de incidência do direito à moradia perderia a sua abrangência outrora concedida.
Processo em segredo de justiça, julgado em 24/2/2015, DJe 13/4/2015.
DIREITO CIVIL
Em ações negatórias de paternidade ajuizadas pelo pai constante no registro de nascimento - pai registral -, em linha de princípio, a paternidade socioafetiva prevalece sobre a verdade biológica.
A chamada "adoção à brasileira", muito embora seja expediente à margem do ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de registro e o filho registrado, não consubstancia negócio jurídico vulgar sujeito a distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida a condição resolutiva consistente no término do relacionamento com a genitora.
Consoante já firmado pelo STJ, no REsp 1.059.214/RS, DJe 12/3/2012, a paternidade atualmente deve ser considerada gênero do qual são espécies a paternidade biológica e a socioafetiva. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e, também, de que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar.
Vale dizer que a pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a paternidade socioafetiva.
No caso, ficou claro que o pai registral reconheceu a paternidade do menor voluntariamente, mesmo sabendo que não era seu filho biológico. Desse reconhecimento estabeleceu-se vínculo afetivo que só cessou com o término da relação com a genitora da criança reconhecida. Das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, dessume-se que o autor, imbuído de propósito manifestamente nobre na origem, por ocasião do registro de nascimento, pretende negá-lo agora, por razões patrimoniais declaradas.
Tal providência ofende, na letra e no espírito, o art. 1.604 do Código Civil, segundo o qual não se pode "vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro", do que efetivamente não se cuida no caso em apreço. Se a declaração realizada, por ocasião do registro, foi uma inverdade no que concerne à origem genética, certamente não o foi no que toca ao desígnio de estabelecer com o infante vínculos afetivos próprios do estado de filho, verdade social em si bastante à manutenção do registro de nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro.
Por fim, frise-se que a manutenção do registro de nascimento não retira da criança o direito de buscar sua identidade biológica e de ter, em seus assentos civis, o nome do verdadeiro pai. É sempre possível o desfazimento da "adoção à brasileira" mesmo nos casos de vínculo socioafetivo, se assim decidir o menor por ocasião da maioridade; assim como não decai seu direito de buscar a identidade biológica em qualquer caso, mesmo na hipótese de adoção regular.
Processo em segredo de justiça, julgado em 25/10/2011, DJe 1º/2/2012.
DIREITO CIVIL
Casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Interpretação dos arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 do Código Civil de 2002. Inexistência de vedação expressa a que se habilitem para o casamento pessoas do mesmo sexo. Vedação implícita constitucionalmente inaceitável. Orientação principiológica conferida pelo STF no julgamento da ADPF n. 132/RJ e da ADI n. 4.277/DF.
Sob a égide da Constituição Federal de 1988, é possível o pedido de habilitação para o casamento civil de pessoas do mesmo sexo.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF n. 132/RJ e da ADI n. 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 2002 interpretação conforme a Constituição para dele excluir todo significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família.
Inaugura-se, com a Constituição Federal de 1988, uma nova fase do direito de família e, consequentemente, do casamento, baseada na adoção de um explícito poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado "família", recebendo todos eles a "especial proteção do Estado".
Agora, a concepção constitucional do casamento - diferentemente do que ocorria com os diplomas superados - deve ser necessariamente plural, porque plurais também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em sua inalienável dignidade.
O que importa agora, sob a égide da Carta de 1988, é que essas famílias multiformes recebam efetivamente a "especial proteção do Estado", e é tão somente em razão desse desígnio de especial proteção que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, ciente o constituinte que, pelo casamento, o Estado melhor protege esse núcleo doméstico chamado família.
Com efeito, se é verdade que o casamento civil é a forma pela qual o Estado melhor protege a família, e sendo múltiplos os "arranjos" familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma família que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das pessoas de seus membros e o afeto.
A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o direito à autoafirmação e a um projeto de vida independente de tradições e ortodoxias. Em uma palavra: o direito à igualdade somente se realiza com plenitude se é garantido o direito à diferença. Conclusão diversa também não se mostra consentânea com um ordenamento constitucional que prevê o princípio do livre planejamento familiar (§ 7º do art. 226).
Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem afronta a caros princípios constitucionais, como o da igualdade, o da não discriminação, o da dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento familiar.
Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus representantes eleitos, não poderia mesmo "democraticamente" decretar a perda de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um papel contramajoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, sejam eles das minorias, sejam das maiorias.
Dessa forma, ao contrário do que pensam os críticos, a democracia se fortalece, porquanto se reafirma como forma de governo, não das maiorias ocasionais, mas de todos.
Processo em segredo de justiça, julgado em 9/5/2017, DJe 1/8/2017.
DIREITO CIVIL
O direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo/gênero no registro civil não é condicionado à realização de cirurgia de transgenitalização.
A controvérsia está em definir se é possível a alteração de gênero no assento de registro civil de pessoa transexual, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização (também chamada de cirurgia de redesignação ou adequação sexual).
No que diz respeito aos aspectos jurídicos da questão, infere-se, da interpretação dos arts. 55, 57 e 58 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que o princípio da imutabilidade do nome, conquanto de ordem pública, pode ser mitigado quando sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração, o que reclamará, em todo caso, autorização judicial, devidamente motivada, após audiência do Ministério Público.
Quanto ao ponto, cabe destacar ser incontroversa a possibilidade de alteração do prenome, na medida em que o Tribunal de origem manteve a sentença que rejeitou tão somente o pedido de alteração do gênero registral da transexual mulher. Ocorre que a mera alteração do prenome das pessoas transexuais, não alcança o escopo protetivo encartado na norma jurídica infralegal, além de descurar da imperiosa exigência de concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Isso porque, se a mudança do prenome configura alteração de gênero (masculino para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante no registro civil preservará a incongruência entre os dados assentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará suscetível a toda sorte de constrangimentos na vida civil, configurando-se flagrante atentado a direito existencial inerente à personalidade.
Nesse contexto, o STJ, ao julgar casos nos quais, realizada a cirurgia de transgenitalização, adotou orientação jurisprudencial no sentido de ser possível a alteração do nome e do sexo/gênero das pessoas transexuais no registro civil - entendimento este que merece evolução tendo em vista que a recusa de modificação do gênero nas hipóteses em que não realizado tal procedimento cirúrgico ofende a cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana.
Vale lembrar que, sob a ótica civilista, os direitos fundamentais relacionados com a dimensão existencial da subjetividade humana são também denominados de direitos de personalidade. Desse modo, a análise do tema reclama o exame de direitos humanos (ou de personalidade) que guardam significativa interdependência, quais sejam: direito à liberdade, direito à identidade, direito ao reconhecimento perante a lei, direito à intimidade e à privacidade, direito à igualdade e a não discriminação, direito à saúde e direito à felicidade.
Assim, conclui-se que, em atenção à cláusula geral de dignidade da pessoa humana, a jurisprudência desta Corte deve avançar para autorizar a retificação do sexo do indivíduo transexual no registro civil, independentemente da realização da cirurgia de adequação sexual, desde que dos autos se extraia a comprovação da alteração no mundo fenomênico (como é o caso presente, atestado por laudo incontroverso), cuja averbação, nos termos do § 6º do artigo 109 da Lei de Registros Públicos, deve ser efetuada no assentamento de nascimento original, vedada a inclusão, ainda que sigilosa, da expressão transexual ou do sexo biológico.
Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), arts. 55, 57, 58 e 109, § 6º
Saiba mais:
Processo em segredo de justiça, julgado em 21/6/2011, DJe 8/8/2011.
DIREITO CIVIL
É juridicamente possível o pedido de reconhecimento de união estável de casal do mesmo sexo.
Não há no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma norma que acolha as relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma, não há, também, nenhuma que proíba esse tipo de relacionamento.
A própria Constituição Federal reconhece a união estável entre pessoas de sexos diferentes e ignora, sem no entanto vetar, as uniões homoafetivas, apenas fazendo menção, em seu artigo 226 e §§, a exemplos de entidades familiares consagradas pelo costume social, visando a defesa do princípio da pluralidade familiar.
O Código Civil de 2002, em seu art. 1.723, é norma de repetição do texto constitucional, disciplinando a união estável entre homem e mulher e nada mencionando sobre aquela composta por pessoas do mesmo sexo.
Nesse contexto, a união homossexual é uma realidade que merece reconhecimento jurídico, pois gera direitos e obrigações que não podem ficar à margem da proteção estatal. O Direito precisa valorizar tais relações sociais e não pode ficar estático à espera da lei.
Até que o legislador regulamente as uniões homoafetivas, a exemplo do que tem acontecido em diversos países do mundo, incumbe ao Poder Judiciário atentar para a nova realidade social, não devendo se escudar na ausência de lei específica para continuar negando direitos.
Dessa forma, se duas pessoas do mesmo sexo decidem se unir, compartilhando conquistas e dificuldades, e mantêm uma convivência pública, contínua, duradoura, bem como o propósito de constituição de família, baseada nos valores do afeto, respeito, companheirismo e assistência mútua, não há razão para deixar de estender a elas a mesma proteção trazida pelo instituto da união estável aos casais heterossexuais.
REsp 1.611.915-RS, julgado em 6/12/2018, DJe 4/2/2019.
DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Acessibilidade de pessoa cadeirante no embarque de transporte aéreo. Transporte aéreo. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Acessibilidade. Cadeirante. Tratamento indigno ao embarque. Ausência dos meios materiais necessários ao ingresso desembaraçado ao avião. Defeito na prestação do serviço. Responsabilidade da prestadora de serviços configurada. Fato de terceiro. Inocorrência.
A companhia aérea é civilmente responsável por não promover condições dignas de acessibilidade de pessoa cadeirante ao interior da aeronave.
A proteção aos direitos humanos passou de uma fase de universalização para a atual etapa de especificação, na qual procede-se a individualização dos grupos titulares de tais prerrogativas dentro de suas especificidades, aprimorando-se os instrumentos de salvaguarda à minoria contemplada. Parte-se, então, para um esforço conjunto dos atores globais para valorizar de forma singularizada o sujeito de direitos.
É diante do referido contexto que surge a preocupação específica com as pessoas com deficiência, a partir da qual exsurgem políticas para assegurar a tais indivíduos o gozo da vida de maneira mais próxima possível da plenitude.
E o enfoque da autodeterminação é a tônica atual dada à proteção dos direitos das pessoas com deficiência, ultrapassando-se a antiquada e reprovável visão de tratar esses indivíduos como mero assunto de saúde pública.
À sociedade hodierna impõe-se aceitar as distinções, dada a multitude de características pessoais de cada um dos seus integrantes, máxime as pessoas com deficiência. Deve a coletividade agir com empenho para efetivar ao máximo a integração dos possuidores de dificuldades ao cotidiano da urbe, isto é, à vida comum, com a redução de situações embaraçosas e sem obstáculos ao deslocamento, objetivando promover a máxima inclusão.
Assim, enseja a configuração de dano moral a ausência de equipamento a possibilitar o embarque e o desembarque do passageiro com deficiência locomotiva, de forma autônoma, ao acarretar o seu ingresso e saída, do avião, em sua cadeira de rodas, no colo de prepostos de empresa aérea.
E, neste panorama, em se tratando de uma relação consumerista, o fato do serviço (art. 14 do CDC) fica configurado quando o defeito ultrapassa a esfera meramente econômica do consumidor, atingindo-lhe a incolumidade física ou moral, como é o caso dos autos, em que o autor foi carregado por prepostos da companhia, sem as devidas cautelas, tendo sido submetido a um tratamento vexatório e discriminatório perante os demais passageiros daquele voo.
Logo, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços - a companhia aérea - responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados, em razão da incontroversa má-prestação do serviço por ela fornecido.
No caso, o constrangimento sofrido guarda direta e estreita relação com o contrato de transporte firmado como a companhia de aviação. Ressalte-se, também, que a acessibilidade de pessoas com deficiência locomotiva ao serviço de transporte aéreo está na margem de previsibilidade e de risco desta atividade de exploração econômica, não restando, portanto, caracterizado o fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).
Deste modo, conclui-se, a partir da interpretação lógico-sistemática da ordem jurídica, que é da sociedade empresária atuante no ramo da aviação civil a obrigação de providenciar a acessibilidade do cadeirante no processo de embarque, quando indisponível ponte de conexão ao terminal aeroportuário (finger).
REsp 1.912.548-SP, julgado em 4/5/2021, DJe 7/5/2021.
DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Acessibilidade de pessoa cadeirante em evento festivo. Pessoa com deficiência física. Cadeirante. Aquisição de camarote em evento festivo. Falta de acessibilidade. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade. Empresas que integram a mesma cadeia de consumo. Inexistência de fato exclusivo de terceiro.
É dever de todos os fornecedores da cadeia de consumo zelar pela disponibilização de condições adequadas de acesso aos eventos, a fim de permitir a participação, sem percalços, do público em geral, inclusive das pessoas com deficiência.
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sempre alinhado à visão de que a deficiência não é problema na pessoa a ser curado, mas um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papéis sociais.
Nessa linha, a Lei n. 13.146/2015 define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art. 3º, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade de um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo "viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art. 53).
Ademais, como princípio, a acessibilidade estabelece que as concepções de todos os espaços, ambientes, produtos e serviços devem permitir que os cidadãos com deficiência possam ser seus usuários legítimos e dignos. Na maior medida possível, aqueles devem ser formatados segundo um "desenho universal", que permita a utilização por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, sem prejuízo das ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. Como direito, a acessibilidade propicia a efetiva inclusão das pessoas com deficiência no meio social, servindo como garantia para o exercício de outros direitos, como a locomoção, saúde, educação, trabalho, esporte e lazer.
Nesse contexto, para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Assim, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC). Para a aplicação dessa excludente de responsabilidade, contudo, o terceiro não pode guardar relação com o fornecedor, ou seja, o conceito de terceiro restringe-se às pessoas que não integram a cadeia de consumo.
No caso, o consumidor adquiriu ingressos para assistir ao show do camarote premium. Embora esse espaço, em específico, tenha sido explorado por empresas estranhas à lide, tal circunstância não se caracteriza como fato exclusivo de terceiro. Isso porque, a recorrente e as demais empresas que atuaram na organização e administração da festividade e da estrutura do local integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelo consumidor em virtude das falhas na prestação dos serviços.
Dessa forma, é dever de todos os fornecedores da cadeia de consumo zelar pela disponibilização de condições adequadas de acesso aos eventos, a fim de permitir a participação, sem percalços, do público em geral, inclusive dos deficientes físicos. É a sociedade, portanto, quem deve se adaptar, eliminando as barreiras físicas, de modo a permitir a integração das pessoas com deficiência ao seio comunitário.
REsp 1.793.840-RJ, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019.
DIREITO DA PESSOA IDOSA
Compete à operadora do plano de saúde o custeio das despesas de acompanhante do paciente idoso no caso de internação hospitalar.
Cinge-se a controvérsia a discutir a quem compete o custeio das despesas do acompanhante de paciente idoso no caso de internação hospitalar.
A figura do acompanhante foi reconhecida pelo art. 16 do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei n. 10.741/2003, que estabelece que ao paciente idoso que estiver internado ou em observação é assegurado o direito a um acompanhante, em tempo integral, a critério do médico. No âmbito da saúde suplementar, contudo, a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, II, f, previu que, na hipótese em que o contrato de plano de saúde incluir internação hospitalar, a operadora é responsável pelas despesas de acompanhante.
Por sua vez, o Ministério da Saúde, antes mesmo do advento da Lei n. 10.741/2003, editou a Portaria MS/GM n. 280/1999 determinando que os hospitais contratados ou conveniados ao Sistema Único de Saúde permitam a presença de acompanhante para os pacientes internados maiores de 60 (sessenta) anos e autorizando ao prestador do serviço a cobrança das despesas previstas com o acompanhante de acordo com as tabelas do SUS, nas quais estão incluídas a acomodação adequada e o fornecimento das principais refeições.
Cumpre observar que, embora a Lei dos Planos inclua a obrigação de cobertura de despesas de acompanhante apenas para pacientes menores de 18 (dezoito) anos, a redação desse dispositivo é de 1998, portanto, anterior, ao Estatuto do Idoso, de 2003.
Nesse contexto, diante da obrigação criada pelo referido estatuto e da inexistência de regra acerca do custeio das despesas de acompanhante de paciente idoso usuário de plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu, por meio das Resoluções Normativas n. 211/2010, n. 387/2015 e n. 428/2017, que cabe aos planos de saúde o custeio das despesas referentes ao acompanhante desse paciente, as quais devem incluir a totalidade dos serviços oferecidos pelo prestador de serviço e relacionadas com a permanência do acompanhante na unidade de internação.
Dessa forma, ainda que o contrato seja anterior ao Estatuto da Pessoa Idosa, inafastável a obrigação da operadora do plano de saúde de custear as despesas do acompanhante, pois a Lei n. 10.741/2003 é norma de ordem pública, de aplicação imediata.
REsp 1.543.465-RS, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.
DIREITO DA PESSOA IDOSA
A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo em transporte interestadual para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos não se limita ao valor das passagens, abrange ainda eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.
A controvérsia cinge-se a saber se o direito do idoso a duas vagas gratuitas, no transporte interestadual, compreende, além do valor das passagens, as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais rodoviários. Vale dizer, se a gratuidade abrange tais valores, as disposições no Decreto n. 5.943/2006 e na Resolução n. 1.692 da ANTT estão eivadas de nulidade, por extrapolar o poder regulamentar. A gratuidade do transporte ao idoso não foi estabelecida somente pela Lei n. 10.741/2003. Encontra, antes disso, suporte constitucional (art. 230, § 2º).
Nota-se, nesse particular, que o constituinte teve especial atenção ao transporte dos idosos, revelando-se tratar, além de um direito, de uma verdadeira garantia, pois tem por escopo, além de facilitar o dever de amparo ao idoso, assegurar sua participação na comunidade, seu bem-estar e sua dignidade, conforme o disposto nos arts. 229 e 230 da Constituição Federal.
Além disso, tal gratuidade foi também prevista no art. 40, I, da Lei n. 10.741/2003, inserida no Capítulo X, atinente ao transporte, e que se encontra fincada no título referente aos direitos fundamentais, devendo ser objeto de interpretação teleológica e sistemática. Verifica-se, ademais, que a referida legislação de regência assegura a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, não estabelecendo qualquer condicionante além do critério de renda a ser observado. Nesse sentido, a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, onde se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais. Vale dizer, deve-se garantir ao idoso com reduzido poder aquisitivo, a dispensa do pagamento de valor que importe em obstáculo ao transporte interestadual, de forma a conferir a completa efetividade à norma.
Note-se, ainda, em relação ao pedágio, que o custo para a operacionalização das empresas de transportes é estável. Independentemente de o veículo transportar 5 ou 30 passageiros, um ou dois idosos com a garantia da gratuidade, o valor devido ao pedágio será o mesmo. Sendo assim, a questão atinente ao equilíbrio econômico-financeiro deverá ser resolvida pelas transportadoras com o poder concedente, com a observância do disposto na legislação específica.
REsp 1.870.834-SP, julgado em 13/9/2023, DJe 19/9/2023 (Tema 1069).
DIREITO DO CONSUMIDOR
Planos de saúde. Paciente pós-cirurgia bariátrica. Dobras de pele. Cirurgias plásticas. Necessidade. Natureza e finalidade. Caráter funcional e reparador. Cobertura. Restabelecimento integral da saúde. Tema 1069.
(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e
(II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei n. 9.656/1998). Efetivamente, tal condição é considerada doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS).
O STJ possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.
Assim, reconhecendo-se que a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética, falta definir a amplitude da cobertura pelos planos de saúde.
Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei n. 9.656/1998.
Por sua vez, a Lei n. 14.454/2022 promoveu alteração na Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Já com a edição da Lei n. 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. Por fim, cabe ressaltar que os efeitos práticos do "rol taxativo mitigado" ou do "rol exemplificativo mitigado" serão similares, isto é, tais efeitos ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.
Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei n. 14.454/2022), chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde.
Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.
Nessas hipóteses, não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que dependem da situação peculiar do paciente, havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS.
Nesse sentido, a junta médica ou odontológica, a ser custeada pelo plano de saúde, deverá ser formada por três profissionais, quais sejam, o médico assistente do beneficiário, o da operadora e o desempatador, escolhido de comum acordo entre as partes. Há possibilidade, ainda, da junta médica à distância, em caso de não poder ser presencial ou não houver profissional especializado na localidade do paciente.
REsp 1.815.796-RJ, julgado em 26/5/2020, DJe 9/6/2020.
DIREITO DO CONSUMIDOR
Planos de saúde. Tratamento quimioterápico. Prognóstico de falência ovarina como sequela. Criopreservação dos óvulos. Necessidade de minimização dos efeitos colaterais do tratamento. Princípio médico primum, non nocere (primeiro, não prejudicar). Obrigação de cobertura do procedimento até a alta da quimioterapia. Possibilidade.
É devida a cobertura, pela operadora de plano de saúde, do procedimento de criopreservação de óvulos de paciente fértil, até a alta do tratamento quimioterápico, como medida preventiva à infertilidade.
Cinge-se a controvérsia sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear o procedimento de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, como medida preventiva à infertilidade.
Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei n. 9.656/1998, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação artificial", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida (RN ANS n. 387/2015). Nessa linha, segundo a jurisprudência do STJ, não caberia a condenação da operadora de plano de saúde a custear criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida.
O caso concreto, porém, revela a necessidade de atenuação dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico primum, non nocere e à norma que emana do art. 35-F da Lei n. 9.656/1998, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade.
Nessa hipótese, é possível a manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico.
Ressalte-se a distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueles em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura.
Processo em segredo de justiça, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022.
DIREITO DO CONSUMIDOR
Planos de saúde. Planos e seguros de saúde. Rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tratamento Psicoterápico. Número de sessões ilimitado. Adoção do método ABA (Análise do Comportamento Aplicada). Cobertura devida.
É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA.
A Quarta Turma do STJ, em julgamento realizado em dezembro de 2019, firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sob pena de se inviabilizar a saúde suplementar. Houve a mudança quanto ao tema (overrruling), concluindo que "O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas".
A necessidade de cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser observada caso a caso, podendo ser admitida, de forma excepcional, desde que amparada em critérios técnicos. Não basta, portanto, apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os procedimentos e medicamentos previstos no rol de cobertura mínima.
Nesse sentido, a Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) reafirmou o entendimento da Quarta Turma, fixando premissas que devem orientar a análise da controvérsia.
Especificamente quanto ao tratamento multidisciplinar para o TEA, a orientação consignada é no sentido de ser devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada (ABA)".
REsp 1.613.561-SP, julgado em 25/4/2017, DJe 1/9/2020.
DIREITO DO CONSUMIDOR
É abusiva a publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade de publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil, um grave problema nacional de saúde pública. Diante disso, consoante o art. 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, estão vedadas campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil.
Na ótica do Direito do Consumidor, publicidade é oferta e, como tal, ato precursor da celebração de contrato de consumo, negócio jurídico cuja validade depende da existência de sujeito capaz (art. 104, I, do Código Civil). Em outras palavras, se criança, no mercado de consumo, não exerce atos jurídicos em seu nome e por vontade própria, por lhe faltar poder de consentimento, tampouco deve ser destinatária de publicidade que, fazendo tábula rasa da realidade notória, a incita a agir como se plenamente capaz fosse.
Processo em segredo de justiça, julgado em 14/12/2010, DJe 8/8/2011.
DIREITO DO CONSUMIDOR
Responsabilidade de provedores de conteúdo. Google. Incidência do CDC. Fiscalização prévia das informações postadas. Desnecessidade. Mensagem de conteúdo ofensivo. Risco inerente ao negócio. Ciência da existência de conteúdo ilícito. Retirada imediata do ar. Disponibilização de meios para identificação de cada usuário.
Os provedores de conteúdo não são responsáveis por dano moral decorrente de conteúdo ofensivo inserido por usuários em site, mas devem remover o conteúdo ilícito imediatamente quando notificados, sob pena de responder solidariamente com o autor do dano.
Cinge-se a controvérsia a determinar se provedor de rede social de relacionamento via internet é responsável pelo conteúdo das informações veiculadas no respectivo site.
Na hipótese do Orkut, comunidade virtual na qual foram veiculadas as informações tidas por ofensivas, verifica-se que o Google atua como provedor de conteúdo, pois o site disponibiliza informações, opiniões e comentários de seus usuários. As peculiaridades inerentes a essa relação virtual não afastam as bases caracterizadoras de um negócio jurídico clássico: (i) legítima manifestação de vontade das partes; (ii) objeto lícito, possível e determinado ou determinável; (iii) e forma prescrita ou não defesa em lei.
Vale notar que o fato de o serviço prestado pelo provedor ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo "mediante remuneração" contido no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. Não obstante a indiscutível existência de relação de consumo no serviço prestado por intermédio do Orkut, a responsabilidade do Google deve ficar restrita à natureza da atividade por ele desenvolvida naquele site, que corresponde à típica provedoria de conteúdo, disponibilizando na rede as informações encaminhadas por seus usuários. Nesse aspecto, o serviço do Google deve garantir o sigilo, a segurança e a inviolabilidade dos dados cadastrais de seus usuários, bem como o funcionamento e a manutenção das páginas na internet que contenham as contas individuais e as comunidades desses usuários.
No que tange à fiscalização do conteúdo das informações postadas por cada usuário, não se trata de atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra o material nele inserido. Tampouco se pode falar em risco da atividade como meio transverso para a responsabilização do provedor, há de se ter cautela na interpretação do art. 927, parágrafo único, do CC/2002.
Nesse ponto, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.067.738/GO, asseverou que "a natureza da atividade é que irá determinar sua maior propensão à ocorrência de acidentes. O risco que dá margem à responsabilidade objetiva não é aquele habitual, inerente a qualquer atividade. Exige-se a exposição a um risco excepcional, próprio de atividades com elevado potencial ofensivo".
Com base nesse entendimento, a I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do CJF, aprovou o Enunciado 38, que aponta interessante critério para definição dos riscos que dariam margem à responsabilidade objetiva, afirmando que esta fica configurada "quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade". Transpondo a regra para o universo virtual, não se pode considerar o dano moral um risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo. Ademais, o controle editorial prévio do conteúdo das informações se equipara à quebra do sigilo da correspondência e das comunicações, vedada pelo art. 5º, XII, da CF/1988.
Dessa forma, conclui-se que não se pode considerar de risco a atividade desenvolvida pelos provedores de conteúdo, tampouco se pode ter por defeituosa a ausência de fiscalização prévia das informações inseridas por terceiros no site, inexistindo justificativa para a sua responsabilização objetiva pela veiculação de mensagens de teor ofensivo. Cabe, nesse ponto, frisar que a liberdade de manifestação do pensamento, assegurada pelo art. 5º, IV, da CF/1988, não é irrestrita, sendo "vedado o anonimato".
Assim, ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. Sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo.
Em suma, pois, tem-se que os provedores de conteúdo: (i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso.
REsp 1.699.780-SP, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.
DIREITO DO CONSUMIDOR
Transporte aéreo de passageiros. Aquisição de passagens do tipo ida e volta. Não utilização do bilhete de ida. Cancelamento automático e unilateral do trecho de volta. Conduta abusiva da transportadora. Ressarcimento das despesas efetuadas com a aquisição das novas passagens (danos materiais). Danos morais configurados.
Configura conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial.
Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual.
Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I).
Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor.
Outro ponto que merece destaque é o fato de que, ainda que a aquisição dos bilhetes de "ida e volta" seja eventualmente mais barata, não se pode olvidar que são feitas duas compras, isto é, uma passagem de "ida" e uma passagem de "volta", tanto que os valores são mais elevados, se comparados à compra de apenas um trecho. Dessa forma, se o consumidor, por qualquer motivo, não comparecer ao embarque no trecho de ida, deverá a empresa aérea adotar as medidas cabíveis quanto à aplicação de multa ou restrições ao valor do reembolso em relação ao respectivo bilhete, não havendo, porém, qualquer repercussão no trecho de volta, caso o consumidor não opte pelo cancelamento.
Ressalta-se, ainda, que a referida prática comercial abusiva ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, porquanto acarreta severas frustrações e angústias aos consumidores, os quais, sem qualquer garantia de êxito e em cidade diversa da de seu domicílio, viram-se, no caso concreto, obrigados a comprar nova passagem de volta, caracterizando-se, assim, a ocorrência de danos morais.
REsp 1.064.009-SC, julgado em 4/8/2009, DJe 27/4/2011.
DIREITO DOS POVOS ORIGINÁRIOS
Assistência à saúde dos povos indígenas. Assistência à saúde. Ministério Público. Legitimidade ativa ad causam. Distinção entre povos indígenas aldeados e outros que vivem fora da Reserva. Ilegalidade. Interpretação de normas de proteção de sujeitos hipervulneráveis e de bens indisponíveis. Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 3.126/1999.
Mostra-se ilegal e ilegítimo o discrímen entre povos indígenas aldeados e outros que vivam fora da Reserva na operacionalização do serviço de saúde pelos entes públicos.
O Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública contra a União e a Funasa, objetivando garantir o acesso dos povos indígenas que não residem em aldeia à assistência médico-odontológica prestada na localidade.
No campo da proteção da saúde e dos povos indígenas, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública é - e deve ser - a mais ampla possível, não derivando de fórmula matemática, em que, por critério quantitativo, se contam nos dedos as cabeças dos sujeitos especialmente tutelados. Nesse domínio, a justificativa para a vasta e generosa legitimação do Parquet é qualitativa, pois leva em consideração a natureza indisponível dos bens jurídicos salvaguardados e o status de hipervulnerabilidade dos sujeitos tutelados, consoante o disposto no art. 129, V, da Constituição Federal, e no art. 6º da Lei Complementar n. 75/1993.
A Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 3.156/1999 estabelecem, no âmbito do SUS, um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, financiado diretamente pela União e executado pela Funasa, que dá assistência aos povos indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, e sem discriminações.
No tocante ao mérito, inexiste, na legislação pátria, respaldo para o critério excludente defendido pela União e pela Funasa - Fundação Nacional de Saúde. O status de índio não depende do local em que se vive, já que, a ser diferente, estariam os indígenas ao desamparo, tão logo pusessem os pés fora de sua aldeia ou Reserva. Mostra-se ilegal e ilegítimo, pois, o discrímen utilizado pelos entes públicos na operacionalização do serviço de saúde, ou seja, a distinção entre povos indígenas aldeados e outros que vivam foram da Reserva. Na proteção dos vulneráveis e, com maior ênfase, dos hipervulneráveis, na qual o legislador não os distingue, descabe ao juiz fazê-lo, exceto se for para ampliar a extensão, o grau e os remédios em favor dos sujeitos especialmente amparados.
O atendimento de saúde - integral, gratuito, incondicional, oportuno e de qualidade - aos povos indígenas caracteriza-se como dever de Estado da mais alta prioridade, seja porque imposto, de forma expressa e inequívoca, pela lei (dever legal), seja porque procura impedir a repetição de trágico e esquecido capítulo da nossa história (dever moral), em que as doenças (ao lado da escravidão e do extermínio físico, em luta de conquista por território) contribuíram decisivamente para o quase extermínio da população indígena brasileira.
REsp 1.551.033-PR, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015.
DIREITO DOS POVOS ORIGINÁRIOS
No procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, regulado pelo Decreto n. 1.775/1996, é imprescindível a realização da etapa de levantamento da área a ser demarcada, ainda que já tenham sido realizados trabalhos de identificação e delimitação da terra indígena de maneira avançada.
Cinge-se a controvérsia sobre a prescindibilidade ou não da etapa de levantamento fundiário à regularidade do processo de demarcação de terra indígena, quando bem avançados os trabalhos de identificação e delimitação da área.
Da análise do Decreto n. 1.775/1996, em seu art. 2º, § 1º, verifica-se que o procedimento de demarcação das terras indígenas passa por duas etapas obrigatórias: estudo técnico antropológico e levantamento da área demarcada.
O procedimento estabelecido pela lei não pode ser interpretado de maneira diferente. Inicialmente porque a delimitação da área indígena será executada pela Administração Pública, por meio de um procedimento previamente delimitado em lei, o que leva ao órgão executor o dever de agir em estrita legalidade, não havendo nessa atividade espaço para locuções de conveniência e oportunidade.
Ainda, quando se trata de demarcação de áreas indígenas, estão sendo preservadas extensões pertencentes à União, passíveis de destinação especificada pela norma, conforme dispõe o art. 231, § 6º, da Constituição Federal. Nesse sentido, o levantamento da área demarcada não se mostra como um elemento secundário e dispensável.
Desse mesmo entendimento, comunga a doutrina sobre o tema, in verbis: "(...) a localização e a extensão de uma terra indígena não é determinada por critérios de oportunidade e conveniência do Poder Público. A demarcação é um ato declaratório e, como tal, está vinculado aos critérios constitucionalmente estabelecidos no art. 231 e seus §§ 1º e 2º. Por ser simples ato declaratório tem que cobrir o conteúdo do objeto reconhecido, não podendo a União, por esse ato - a demarcação -, diminuir ou dividir as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, sob pena de incidir em grave inconstitucionalidade e nulidades".
Isso porque a premissa acima decorre da incidência do princípio da continuidade, que, por sua vez, informa que devem ser resguardados aos povos indígenas o uso tradicional de sua área de ocupação, necessário à reprodução física e cultural da etnia.
Outrora, à medida que se busca com a manutenção do acórdão de origem é garantir a estrita legalidade à consecução de um direito de ocupação inviolável e inalienável dado aos povos indígenas, que, por sua vez, não abrange a determinação de desocupação de sujeitos privados de uma área em análise sem a observância dos requisitos legais.
Dessarte, no caso, resta evidenciado que houve o descumprimento do devido processo legal administrativo, ensejador de vício de nulidade, uma vez que os procedimentos atinentes à demarcação das terras indígenas não foram regularmente observados pela FUNAI, revelando, assim, ausência de direito irrefutável à demarcação da área.
Processo em segredo de justiça, julgado em 5/4/2022, DJe 22/4/2022.
DIREITO PENAL
A Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha) é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica.
A aplicação da Lei Maria da Penha não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida.
Importa enfatizar que o conceito de gênero não pode ser empregado sem que se saiba exatamente o seu significado e de tal modo que acabe por desproteger justamente quem a Lei Maria da Penha deve proteger: mulheres, crianças, jovens, adultas ou idosas e, no caso, também as trans.
Para alicerçar a discussão referente à aplicação do art. 5º da Lei Maria da Penha quando tratar-se de mulher trans, necessária é a diferenciação entre os conceitos de gênero e sexo, assim como breves noções de termos transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis, com a compreensão voltada para a inclusão dessas categorias no abrigo da Lei em comento, tendo em vista a relação dessas minorias com a lógica da violência doméstica contra a mulher.
A balizada doutrina sobre o tema leva à conclusão de que as relações de gênero podem ser estudadas com base nas identidades feminina e masculina. Gênero é questão cultural, social, e significa interações entre homens e mulheres. Uma análise de gênero pode se limitar a descrever essas dinâmicas. O feminismo vai além, ao mostrar que essas relações são de poder e que produzem injustiça no contexto do patriarcado. Por outro lado, sexo refere-se às características biológicas dos aparelhos reprodutores feminino e masculino, bem como ao seu funcionamento, de modo que, o conceito de sexo, como visto, não define a identidade de gênero. Em uma perspectiva não meramente biológica, portanto, mulher trans mulher é.
Estabelecido entendimento de mulher trans como mulher, para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, vale lembrar que a violência de gênero é resultante da organização social de gênero, a qual atribui posição de superioridade ao homem. A violência contra a mulher nasce da relação de dominação/subordinação, de modo que ela sofre as agressões pelo fato de ser mulher.
Com efeito, a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o Direito não se deve alicerçar em argumentos simplistas e reducionistas.
Assim, é descabida a preponderância de um fator meramente biológico sobre o que realmente importa para a incidência da Lei Maria da Penha, com todo o seu arcabouço protetivo, inclusive a competência jurisdicional para julgar ações penais decorrentes de crimes perpetrados em situação de violência doméstica, familiar ou afetiva contra mulheres.
Processo em segredo de justiça, julgado em 18/5/2022, DJe 20/5/2022.
DIREITO PENAL
É desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana.
Esse conjunto de direitos se manifesta, no plano internacional, como verdadeiro direito humano. Não é demais rememorar que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979 (internalizada no Decreto n. 4.377, de 13/9/2002), vedou a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar o exercício pela mulher dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo (art. 1º).
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.
Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual a aplicação da Lei Maria da Penha não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas, tão somente, que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida (REsp 1.977.124/SP, Sexta Turma, DJe 22/04/2022).
De fato, a mulher possui, na Lei Maria da Penha, a proteção acolhida pelo país em direito convencional de proteção ao gênero, que independe da demonstração de concreta fragilidade, física, emocional ou financeira (AgRg no RHC 74.107/SP, Sexta Turma, DJe de 26/9/2016).
REsp 131.765-SP, julgado em 4/11/1997, DJe 1°/12/1997.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
A qualificação profissional do marido como rurícola, constante de atos do registro civil, se estende à esposa, podendo, assim, ser considerada como razoável início de prova material, para fins de deferimento de aposentadoria rural por idade.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de extensão da qualificação profissional do marido como lavrador, contida em registro civil, para fins de reconhecimento do benefício de aposentadoria rural à esposa.
No Tribunal de origem, foi reconhecido o direito à percepção de benefício rural, porquanto teria sido comprovada a atividade laborativa por meio de início razoável de prova material corroborada por provas testemunhais, entendendo-se, ainda, que teria sido cumprido o tempo de serviço mínimo exigido pela Lei n. 8.213/1991, para o reconhecimento do exercício da atividade rural.
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por sua vez, defendeu que, para a comprovação de tempo de serviço, seriam necessários documentos que demonstrassem, de modo inequívoco, o exercício da atividade rural, o que não teria ocorrido no processo.
Em análise ao texto legal referente a essa exigência probatória, mostra-se correta a valoração dos documentos apresentados com a petição inicial feita pelo Tribunal a quo, uma vez que devem ser considerados como razoável início de prova material a certidão de casamento da autora, na qual consta a profissão de rurícola do marido, extensível à sua esposa em razão da situação de campesinos comum ao casal que ela retrata.
Ademais, tal orientação encontra-se no mesmo sentido das decisões proferidas pela Terceira Seção desta Corte Superior, nos embargos de divergência originados dos REsps. 111.815/SP e 111.830/SP, no sentido de que referidos atos do registro civil tanto servem ao marido como a sua esposa, para fins de comprovação do exercício da atividade rural.
Dessa forma, apesar das tarefas relacionadas aos cuidados do lar exercidas pela esposa, também deve ser ela considerada como trabalhadora rurícola, para fins de obtenção do benefício de aposentadoria rural por idade.
REsp 360.202-AL, julgado em 4/6/2002, DJe 1º/7/2002.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Benefício de prestação continuada para pessoa vivendo com o vírus HIV. Art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/1993. Pessoa vivendo com o vírus HIV. Incapacidade para o trabalho e para prover o próprio sustento e de tê-lo provido pela família. Laudo pericial que atesta a capacidade para a vida independente baseada apenas nas atividades rotineiras do ser humano. Impropriedade do óbice à percepção do benefício.
A pessoa vivendo com o vírus HIV faz jus à percepção do benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/1993 quando incapaz para o trabalho, ainda que haja laudo médico-pericial atestando a sua capacidade para a vida independente baseado exclusivamente na possibilidade de realização de atividades rotineiras sem o auxílio de terceiros.
O art. 20 da Lei n. 8.742/1993 regulou o art. 203, V, da Constituição Federal quanto ao recebimento do benefício de prestação continuada pelos idosos e pelas pessoas com deficiência. No entanto, em seu § 2º, aquela lei definiu pessoas com deficiência como aquelas que estão incapacitados, tanto para a vida independente, quanto para o trabalho.
Tal conceituação, todavia, não pode servir de obstáculo à concessão do benefício previdenciário, exigindo que o deficiente comprove ser incapacitado tanto para o trabalho quanto para a vida independente, pois basta que comprove aqueles requisitos previstos no caput do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 e no inciso V do art. 203 da CF.
In casu, há laudo pericial atestando que o recorrido, vivendo com o vírus HIV, é incapaz para a atividade laboral, porém seria capaz para a vida independente, pelo simples fato de sozinho executar tarefas diárias simples, tais como se alimentar, se vestir e fazer sua higiene.
Nesse contexto, o intuito do legislador não é deferir o benefício apenas às pessoas com deficiência com grau debilitante tal que suprima total ou parcialmente a sua capacidade de locomoção.
Portanto, o laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida independente, pelo simples fato de a pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício. Isso porque, se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido às pessoas com deficiência, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo.
Dessa forma, entende-se que esse laudo não pode servir de base para negar o benefício.
Processo em segredo de justiça, julgado em 5/10/2022, DJe 28/11/2022.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
No acordo de colaboração premiada, não há inviabilidade na fixação de sanções penais atípicas, desde que não viole a Constituição Federal, o ordenamento jurídico, a moral e a ordem pública, ou a fixação de penas mais severas do que aquelas previstas abstratamente pelo legislador.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de homologação de acordo que pactue sanções penais atípicas, notadamente, no caso, a fixação de regime diferenciado de cumprimento de pena.
O combate à moderna criminalidade organizada, em especial, o alto poder de intimidação por meio da lei do silêncio ("omertà" das organizações mafiosas) e a cultura da supressão de provas -, requer a adoção de meios excepcionais de investigação, diante da insuficiência dos métodos tradicionais.
Os desafios impostos por esta nova forma de criminalidade deram ensejo ao aprofundamento do modelo consensual de justiça na seara criminal, no qual se insere o acordo de colaboração premiada, cuja natureza de negócio jurídico processual bilateral e personalíssimo já foi reforçada pelo STF (HC 127.483, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2016).
Neste novo modelo, respeitadas as balizas legais, a autonomia da vontade das partes, permeada pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo dever de lealdade, adquire especial relevo. Deve ser superada a tradicional visão de que, por tratar de interesses indisponíveis, o processo penal encontra-se imune à autonomia privada da vontade. Na seara penal, a própria Constituição da República de 1988, ao prever a criação dos juizados especiais criminais, com a expressa admissão da transação penal (art. 98, I), chancelou a viabilidade do modelo consensual de justiça.
Isso não significa que a adoção desse novo modelo de justiça negocial confere liberdade ampla às partes, notadamente em razão da presença do Estado em um dos polos da avença e do inegável interesse público subjacente ao processo penal. Cumpre observar que o princípio da legalidade é uma garantia constitucional que milita em favor do acusado perante o poder de punir do Estado, não podendo ser usado para prejudicá-lo, sob pena de inversão da lógica dos direitos fundamentais.
O direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV), assegurado a todos os investigados, desdobra-se no direito à informação, no direito de manifestação e no direito de ver seus argumentos considerados, mas não na prerrogativa de afetar negativamente a situação jurídica de terceiros, especialmente daqueles que atuam em conformidade com a lei, colaborando com a Justiça.
Do ponto de vista do colaborador (igualmente investigado), a colaboração premiada também deflui diretamente do princípio da ampla defesa, conferindo-lhe maior amplitude. O inegável cálculo utilitarista de custo-benefício que o agente criminoso realiza ao colaborar com a Justiça compõe parte de sua estratégia defensiva, enriquecendo as potencialidades de sua mais abrangente defesa.
A colaboração premiada - embora muito discutida sob o enfoque ético - é um relevante e necessário instrumento de direito processual penal. Existem mecanismos de controle destinados a evitar abusos, alguns deles já previstos na Lei n. 12.850/2013, tais como: I) a necessidade de homologação judicial (art. 4º, § 7º); II) a renúncia ao direito ao silêncio e o compromisso de dizer a verdade (art. 4º, § 14); III) a rescisão do acordo em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração (art. 4º, § 17), IV) a obrigação de cessar o envolvimento em conduta ilícita (art. 4º, § 18); e V) a previsão do tipo penal do art. 19.
Há, sem dúvida, um equilíbrio delicado a ser alcançado. O sistema deve ser atrativo ao agente, a ponto de estimulá-lo a abandonar as atividades criminosas e a colaborar com a persecução penal. Ao mesmo tempo, deve evitar o comprometimento do senso comum de justiça ao transmitir à sociedade a mensagem de que é possível ao criminoso escapar da punição, "comprando" sua liberdade com informações de duvidoso benefício ao resultado útil do processo penal.
A melhor solução não parece repousar na vedação, em abstrato, dos benefícios atípicos, mas sim no cuidadoso sopesamento da extensão dos benefícios pactuados diante da gravidade do fato criminoso e da eficácia da colaboração, conforme previsão do art. 4º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.
Quanto à previsão de nulidade de cláusulas que alterem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena ou os requisitos de progressão de regime (art. 4º, § 7º, II, da Lei n. 12.850/2013), o próprio legislador autorizou a fixação de benefícios mais amplos ao estabelecer que o juiz poderá conceder perdão judicial ou substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 4º, caput, da Lei n. 12.850/2013).
Se é possível extinguir a punibilidade dos crimes praticados pelo colaborador (perdão judicial) ou isentá-lo de prisão (substituição da pena), com mais razão seria possível aplicar-lhe pena privativa de liberdade com regime de cumprimento mais benéfico.
Assim, não há invalidade, em abstrato, na fixação de sanções penais atípicas, desde que não haja violação da Constituição da República ou do ordenamento jurídico, bem como da moral e da ordem pública. Da mesma forma, em respeito às garantias fundamentais individuais, a sanção premial não pode agravar a situação jurídica do colaborador, com a fixação de penas mais severas do que aquelas previstas abstratamente pelo legislador.
HC 657.165-RJ, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
A mera falta de confissão do crime no inquérito policial não afasta o cabimento do acordo de não persecução penal e não autoriza que o juiz deixe de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para avaliar o seu oferecimento, nos termos do art. 28-A, § 14 do Código de Processo Penal.
O acordo de não persecução penal - ANPP, de modo semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, introduziu, no sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada. Se, por um lado, não se trata de direito subjetivo do réu, por outro, também não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do Parquet.
O ANPP é um poder-dever do Ministério Público, negócio jurídico pré-processual entre o órgão ministerial (consoante sua discricionariedade regrada) e o averiguado, com o fim de evitar a judicialização criminal, e que culmina na assunção de obrigações por ajuste voluntário entre os envolvidos. Como poder-dever, portanto, observa o princípio da supremacia do interesse-público - consistente na criação de mais um instituto despenalizador em prol da otimização do sistema de justiça criminal - e não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP.
A doutrina, aliás, prefere a expressão dever-poder, em vez de poder-dever, justamente por enfatizar que se trata muito mais de uma competência atribuída ao ente exclusivamente para que possa cumprir a finalidade instituída em lei do que uma opção a ser exercida ao bel-prazer de seu titular. Destarte, é sob o prisma do poder-dever (ou melhor, do dever-poder), e não da mera faculdade, que deve ser analisada a recusa do órgão ministerial.
A ausência de confissão, como requisito objetivo, ao menos em tese, pode ser aferida pelo juiz de direito para negar a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça nos termos do art. 28, § 14, do CPP. Todavia, ao exigir a existência de confissão formal e circunstanciada do crime, o novel art. 28-A do CPP não impõe que tal ato ocorra necessariamente no inquérito, sobretudo quando não consta que o acusado - o qual estava desacompanhado de defesa técnica e ficou em silêncio ao ser interrogado perante a autoridade policial - haja sido informado sobre a possibilidade de celebrar a avença com o Parquet caso admitisse a prática da conduta apurada.
Não há como simplesmente considerar ausente o requisito objetivo da confissão sem que, no mínimo, o investigado tenha ciência sobre a existência do novo instituto legal (ANPP) e possa, uma vez equilibrada a assimetria técnico-informacional, refletir sobre o custo-benefício da proposta. É também nessa linha o Enunciado n. 13, aprovado durante a I Jornada de Direito Penal e Processo Penal do Conselho de Justiça Federal (CJF/STJ): "A inexistência de confissão do investigado antes da formação da opinio delicti do Ministério Público não pode ser interpretada como desinteresse em entabular eventual acordo de não persecução penal".
A exigência de que a confissão ocorra no inquérito para que o Ministério Público ofereça o acordo de não persecução penal traz, ainda, alguns inconvenientes que evidenciam a impossibilidade de se obrigar que ela aconteça necessariamente naquele momento. Deveras, além de, na enorme maioria dos casos, o investigado ser ouvido pela autoridade policial sem a presença de defesa técnica e sem que tenha conhecimento sobre a existência do benefício legal, não há como ele saber, já naquela oportunidade, se o representante do Ministério Público efetivamente oferecerá a proposta de ANPP ao receber o inquérito relatado. Isso poderia levar a uma autoincriminação antecipada realizada apenas com base na esperança de ser agraciado com o acordo, o qual poderá não ser oferecido pela ausência, por exemplo, de requisitos subjetivos a serem avaliados pelo membro do Parquet.
Assim, pela mera ausência de confissão do réu no inquérito, oportunidade em que o investigado estava desacompanhado de defesa técnica, ficou em silêncio e não tinha conhecimento sobre a possibilidade de eventualmente vir a receber a proposta de acordo, a nulidade da decisão que negou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça é medida que se impõe.
RHC 158.580-BA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
A mera alegação genérica de "atitude suspeita" é insuficiente para a licitude da busca pessoal.
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
Entretanto, a norma constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora - mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre -, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.
A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais - em verdadeiros "tribunais de rua" - cotidianamente constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela.
Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª Turma, DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP - reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".
Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal - o que por certo não é verdade -, as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade.
Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público - a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris -, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança.
Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: "Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal".
No caso, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta "atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
RHC 51.531-RO, julgado em 19/4/2016, DJe 9/5/2016.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Sem prévia autorização judicial, é ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp obtidas diretamente pela polícia em telefone celular apreendido no flagrante.
A Constituição Federal prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas (art. 5º, X e XII), salvo ordem judicial.
No caso das comunicações telefônicas, a Lei n. 9.296/1996 regulamentou o tema: "Art. 1º. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática."
Por sua vez, a Lei n. 9.472/1997, ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, prescreveu: "Art. 3º. O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: [...] V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas."
Na mesma linha, a Lei n. 12.965/2014, a qual estabelece os princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê que: "Art. 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: [...] II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial."
No caso, na perícia realizada, houve acesso aos dados do celular e às conversas de whatsapp obtidos sem ordem judicial.
No acesso aos dados do aparelho, tem-se devassa de dados particulares, com violação à intimidade do agente. Embora possível o acesso, necessária é a prévia autorização judicial devidamente motivada.
Na conversas mantidas pelo programa whatsapp, que é forma de comunicação escrita, imediata, entre interlocutores, tem-se efetiva interceptação inautorizada de comunicações. É situação similar às conversas mantidas por e-mail, onde para o acesso tem-se igualmente exigido a prévia ordem judicial.
Atualmente, o celular deixou de ser apenas um instrumento de conversação pela voz à longa distância, permitindo, diante do avanço tecnológico, o acesso de múltiplas funções, incluindo, no caso, a verificação da correspondência eletrônica, de mensagens e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia convencional.
Deste modo, ilícita é tanto a devassa de dados, como das conversas de whatsapp obtidos de celular apreendido, porquanto realizada sem ordem judicial.
RHC 35.769-RJ, julgado em 25/11/2014, DJe 15/12/2014.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
Não é possível a incidência do princípio da insignificância em delitos com violência à pessoa, ainda mais no âmbito das relações domésticas, conforme já decidiu o STJ:
"Como já referido na decisão agravada, não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de que decorre violência física, ainda mais se ele é praticado no âmbito familiar, e, como dito, ainda que assim não fosse, a apuração da dimensão das lesões corporais provocadas na vítima demandaria, de modo inafastável, a apreciação de matéria fático-probatória, a esbarrar na proibição contida na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 19.042/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma julgado em 14/2/2012, DJe 1/3/2012).
Condutas deste jaez não se coadunam com os requisitos da insignificância, conforme entendem a doutrina e jurisprudência sobre o tema.
A incidência do instituto somente ocorre nos fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ou que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido o voto do Ministro Celso de Mello, no HC 84.412-0/SP, DJU de 19/11/2004, que se tornou referência não só no Supremo Tribunal Federal, como também no STJ:
"Como se sabe, o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala expressivo magistério doutrinário expendido na análise do tema em referência".
O princípio da insignificância - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
Isso significa, pois, que o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificarão quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
Pet 11.805-DF, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017. (Tema 177 revisado).
REsp 1.097.042-DF, julgado em 24/2/2010, DJe 21/5/2010 (Tema 177 revisado).
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Lei Maria da Penha. Crime de lesões corporais cometido contra mulher no âmbito doméstico e familiar. Natureza da ação penal. Revisão do entendimento do STJ. Adequação à orientação da ADI n. 4.424-DF - STF. Ação pública incondicionada. Tema 177/STJ. Súmula 542/STJ.
A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada.
Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que "a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública condicionada à representação da vítima" (Rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão ministro Jorge Mussi, DJe 21/5/2010 - Tema 177/STJ).
Todavia, em sessão realizada em 9/2/2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.424-DF, com efeito erga omnes, em que atribuiu orientação, conforme à Constituição, aos arts. 12, I, 16 e 41, todos da Lei n. 11.340/2006, acolhendo, assim, tese oposta à jurisprudência consolidada desta Corte, ao assentar que os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada.
Concluiu-se, em suma, que, não obstante permanecer imperiosa a representação para crimes dispostos em leis diversas da Lei n. 9.099/1995, como o de ameaça e os cometidos contra a dignidade sexual, nas hipóteses de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível seria pública incondicionada.
Já em consonância com o referido julgamento do Excelso Pretório acerca do tema, a Terceira Seção houve por bem editar a Súmula n. 542/STJ (A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada), publicada no DJe 26/8/2015 - o que reforça, ainda mais, a revisão da tese fixada no Tema 177/STJ.
HC 598.886-SC, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.
O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.
O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.
Saiba mais:
HC 46.525-MT, julgado em 21/3/2006, DJe 10/4/2006.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Teoria da Imputação Objetiva no processo penal. Homicídio culposo. Morte por afogamento na piscina. Autoria coletiva. Inépcia da denúncia. Acusação genérica. Ausência de previsibilidade, de nexo de causalidade e da criação de um risco não permitido. Teoria da Imputação Objetiva no processo penal. Princípio da confiança. Trancamento da ação penal. Atipicidade da conduta.
Ainda que se admita a existência de relação de causalidade entre a conduta dos acusados e a morte da vítima, à luz da teoria da imputação objetiva, necessária é a demonstração da criação, pelos agentes, de uma situação de risco não permitido, afastando, assim, no caso concreto, a responsabilidade dos pacientes diante da inexistência de previsibilidade do resultado.
O art. 41 do Código de Processo Penal dispõe que "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
No caso, busca o Ministério Público a responsabilização criminal dos membros de Comissão de Formatura, da qual faz parte o paciente, sob a alegação de que não foram diligentes e não obedeceram às normas de segurança necessárias para a realização da festa de confraternização de curso universitário, onde havia cerca de setecentas pessoas, concorrendo, assim, para o resultado morte da vítima.
A afirmação contida na denúncia de que "a vítima foi jogada dentro da piscina por seus colegas, assim como tantos outros que estavam presentes, ocasionando seu óbito", não atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do CPP. Isso porque, ainda que se admita certo abrandamento no tocante ao rigor da individualização das condutas, quando se trata de delitos de autoria coletiva, não existe respaldo jurisprudencial para uma acusação genérica, que impeça o exercício da ampla defesa, por não demonstrar qual a conduta tida por delituosa, considerando que nenhum dos membros da referida comissão foi apontado na peça acusatória como sendo pessoa que jogou a vítima na piscina.
Desse modo, uma vez identificado o resultado, no caso, a morte da vítima, que constitui elemento indispensável à formulação típica do homicídio culposo, é imprescindível relacioná-lo com a ação realizada pelo agente, mediante um vínculo causal, cuja ausência acarreta a impossibilidade de imputação. De fato, não restou demonstrada a presença do nexo de causalidade na acusação feita pelo Ministério Público, no sentido de que os denunciados são responsáveis pelo homicídio culposo ocorrido, por não terem sido diligentes, deixando supostamente de obedecer às normas de segurança necessárias para a realização da festa.
Ademais, associada à teoria da imputação objetiva, sustenta a doutrina que vigora o princípio da confiança, as pessoas se comportarão em conformidade com o direito, o que não ocorreu in casu, pois a vítima veio a afogar-se, segundo a denúncia, em virtude de ter ingerido substâncias psicotrópicas, comportando-se, portanto, de forma contrária aos padrões esperados. Assim, afasta-se a responsabilidade dos pacientes, diante da inexistência de previsibilidade do resultado, acarretando a atipicidade da conduta.
Código de Processo Penal (CPP), art. 41.

