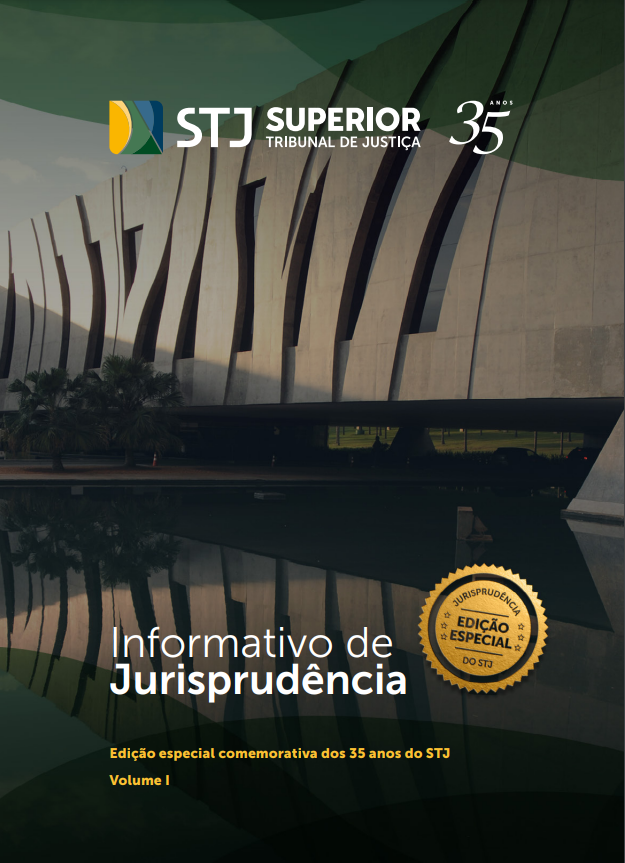Processos
Espaço do servidor
Pró-Ser
Gestão de Desempenho
Ministros
Gestão de Documentos
Jurisprudência
Pesquisa
Súmulas
Outros
- Legislação Aplicada
- Vocabulário Jurídico
- Informativo de Jurisprudência
- Jurisprudência em Teses
- Repetitivos e IACs Organizados por Assunto
- Íntegra de Acórdãos
- Revista Eletrônica de Jurisprudência
- Repositórios autorizados de Jurisprudência
Publicações
Biblioteca
Entidades Relacionadas
Sessão de Julgamento
Serviços
Certidões
SISBAJUD
Legislação
Visitação ao STJ
Concursos e estágios
Ouvidoria
Ajuda
Informativo de Jurisprudência
Filtrar Resultados
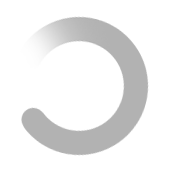
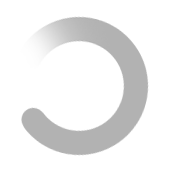
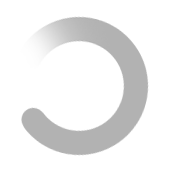
Coletâneas anuais
Anuário por Ramos do Direito:
Edições Anuais Compiladas:
O Informativo de Jurisprudência divulga, periodicamente, teses firmadas pelo STJ que são selecionadas pela novidade no âmbito do Tribunal e pela repercussão no meio jurídico.
Acesse abaixo a edição mais recente ou clique em "Edições anteriores" para realizar outras consultas.
Para visualizar notas dos julgamentos destacados a cada semestre, clique em "Edições especiais".
Se preferir, utilize as ferramentas ao lado para fazer uma pesquisa livre ou acessar coletâneas anuais organizadas por ramos do Direito ou por data.
25 de março de 2025.
REsp 2.021.665-MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, por maioria, julgado em 13/3/2025. (Tema 1198).
DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Demandas abusivas. Documentos capazes de comprovar a seriedade da demanda. Exigência. Finalidade. Coibição de fraude processual. Tema 1198.
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de o juiz, em um estágio inicial do processo, exigir que a parte apresente documentos capazes de evidenciar a verossimilhança do direito alegado, pavimentando, dessa forma, o caminho para a entrega de uma tutela jurisdicional efetiva e coibindo, a um só tempo, a prática de fraudes processuais. Ou seja, saber até que ponto ou em qual medida o juiz, antevendo a natureza temerária da lide, pode exigir da parte autora que apresente documentos capazes de confirmar a seriedade da pretensão deduzida em juízo.
Nas sociedades de massa, em que a grande maioria da população integra processos de produção, distribuição e consumo de larga escala, é esperado o surgimento de demandas e lides também massificadas. Essa litigância de massa, conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui manifestação legítima do direito de ação.
Observa-se, no entanto, em várias regiões do país, verdadeira avalanche de processos infundados, marcados pelo exercício de advocacia abusiva, predatória, que não encontra respaldo no legítimo direito de ação. Tais feitos não apenas embaraçam o exercício de uma jurisdição efetiva, mas verdadeiramente criam sérios problemas de política pública, conforme identificado por órgãos de inteligência de vários tribunais do país.
A possibilidade de o juiz exigir a apresentação de documentos para comprovar o interesse de agir ou a verossimilhança do direito alegado tem sido admitida por esta Corte e também pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas situações.
Por isso, poderá o juiz, a fim de coibir o uso fraudulento do processo, exigir que o autor apresente extratos bancários, cópias de contratos, comprovante de residência, procuração atualizada e com poderes específicos, dentre outros documentos, a depender de cada caso concreto.
A procuração outorgada para determinada causa em regra não subsiste para outras ações distintas e desvinculadas, porque uma vez executado o negócio cessa o mandato para o qual outorgado (art. 682, IV, do Código Civil - CC). Assim, caso o advogado apresente instrumento muito antigo, dando margem a descrença de que não existe mais relação atual com o cliente, é lícito ao juiz determinar que a situação seja esclarecida, com juntada de um eventual novo instrumento.
A cautela indicada tem respaldo em princípios constitucionais de acesso à justiça, de proteção ao consumidor e de duração razoável do processo, harmonizando-se, ainda, com os postulados legais que privilegiam o julgamento de mérito e impõem o dever de cooperação entre os sujeitos do processo que, afinal, precisa ter desenvolvimento válido e regular.
O risco de exigências judiciais excessivas, como de resto o de qualquer decisão judicial equivocada, constitui realidade inexpugnável, ínsita ao sistema de Justiça, mas que deve ser controlado pontualmente em cada processo, não podendo ser invocado como obstáculo à adoção de boas práticas na condução judicial do feito.
Código Civil (CC), art. 682, IV.
REsp 2.175.376-PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 24/3/2025.
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR
Ao ex-militar temporário licenciado do serviço ativo das Forças Armadas antes da vigência da Lei n. 13.954/2019, deve-se aplicar legislação vigente ao tempo do licenciamento, motivo pelo qual seu eventual direito à reintegração e à reforma militar deve ser apreciado à luz das disposições contidas na Lei n. 6.880/1980.
Trata-se de controvérsia a envolver matéria de Direito Intertemporal.
Com efeito, o caso em análise volta-se a situação envolvendo militar temporário licenciado quando da vigência da Lei n. 13.954/2019.
Como é cediço, a relação jurídica existente entre os militares em atividade das Forças Armadas e a Administração Pública é de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, no que concerne aos efeitos dessa relação jurídica que se protrai no tempo.
Essa compreensão se ampara na premissa de que os militares não possuem direito adquirido a regime jurídico, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 24/STF (RE n. 563.708); sendo assim, inexistindo ressalva em sentido contrário, as modificações introduzidas pela Lei n. 13.954, de 16/12/2019, às Leis n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e 4.375/1965 (Lei do Serviço Militar) são plenamente aplicáveis aos militares que, à época, já se encontravam no serviço ativo das Forças Armadas, temporários ou de carreira.
Contudo, ao contrário da hipótese mencionada acima, é a do o ex-militar temporário que, ao tempo do início da vigência da Lei n. 13.954/2019 já se encontrava licenciado das Forças Armadas, não possuía vínculo jurídico com a União.
Em tal situação, uma vez que não é possível falar em uma relação jurídica de trato sucessivo, o eventual direito à reintegração e à reforma do ex-militar temporário deve ser examinado segundo o princípio tempus regit actum, levando-se em consideração a legislação vigente ao tempo do licenciamento tido por ilegal.
Portanto, ao ex-militar temporário licenciado do serviço ativo das Forças Armadas antes da vigência da Lei n. 13.954/2019, deve-se aplicar legislação vigente ao tempo do licenciamento, motivo pelo qual seu eventual direito à reintegração e à reforma militar deve ser apreciado à luz das disposições contidas na Lei n. 6.880/1980 (anteriores à Lei n. 13.954/2019).
REsp 2.072.052-RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 11/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
É necessária a aplicação da técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, na hipótese em que os embargos declaratórios opostos em apelação sejam julgados por maioria, e o voto vencido possua aptidão para inverter o resultado unânime inicial do apelo ordinário.
A questão jurídica controvertida diz respeito à necessidade ou não de aplicação da técnica do julgamento ampliado, previsto no art. 942 do Código de Processo Civil/2015, na hipótese em que, a despeito de se ter sido julgado por unanimidade o recurso de apelação, os aclaratórios opostos na sequência são decididos por maioria, possuindo, o voto vencido, aptidão para inverter o resultado unânime inicial no apelo ordinário.
No caso em deslinde, foi aviado o recurso de apelação contra sentença favorável à parte autora, tendo sido desprovida à unanimidade, já na vigência do CPC/2015. Naquela assentada, concluiu-se pelo descabimento da alegação de fraude à execução e manteve-se o comando sentencial pela desconstituição de penhora.
Contra esse primeiro decisum, valeu-se, a parte, do recurso integrativo referindo omissão no acórdão embargado. Os embargos de declaração foram rejeitados por maioria.
Importa destacar, contudo, que o voto vencido, no julgamento integrativo, vislumbrou a existência de omissão passível de reverter o resultado inicial da apelação.
Nessa situação, a despeito de a letra do art. 942 do CPC/2015 não determinar o julgamento ampliado para os embargos de declaração opostos contra acórdão em apelação, a doutrinária sinaliza em favor da necessidade de se aplicar a aludida técnica também nesses casos, isto é, quando o julgado integrativo se der por maioria.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "a técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos embargos de declaração não unânimes decorrentes de acórdão de apelação, quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos (se de rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)" (REsp 1.786.158/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1/9/2020).
Destarte, ao deixar de aplicar a técnica de julgamento ampliado no exame dos embargos de declaração, o Tribunal a quo incorreu, a um só tempo, em negativa de vigência ao art. 942 do CPC e em error in procedendo, sendo, por isso, de rigor o retorno dos autos à origem para que prossiga na análise colegiada do recurso integrativo, desta feita, observando-se o aludido rito legal ampliado.
Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 942.
REsp 2.161.702-AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 25/3/2025.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Erro médico no Sistema Único de Saúde - SUS. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova ope legis. Impossibilidade. Redistribuição do ônus probatório com base na hipossuficiência técnica do paciente e na melhor condição probatória do ente público. Possibilidade.
A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais. Contudo, mesmo que afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a redistribuição do ônus probatório pode ser determinada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público.
Cinge-se a controvérsia em definir se é aplicável a legislação consumerista aos pedidos indenizatórios decorrentes de erro médico na rede pública de saúde e se é possível a inversão do ônus probatório.
A regra disposta no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - CDC reconhece que serviço, para atrair a legislação consumerista, é a atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
Desse modo, parece evidente que os serviços capazes de atrair a incidência da legislação consumerista são aqueles remunerados, seja essa remuneração direta ou indireta, que, nesta hipótese, configura-se quando o pagamento não é específico e individual, mas coletivo ou quando o consumidor paga por outros meios por um suposto "benefício gratuito".
Essa afirmação poderia levar a crer que todos os serviços públicos subordinar-se-iam às normas de proteção do consumidor, já que nenhum deles pode ser considerado efetivamente gratuito, haja vista que todos são colocados à disposição da população a partir de receitas originárias da arrecadação de tributos, todavia, esse entendimento não merece prosperar.
Mostra-se, assim, imprescindível a distinção entre os serviços públicos passíveis de serem regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e aqueles que se subordinam exclusivamente ao direito administrativo, sobretudo porque nem todo fornecedor de serviço público poderá ser submetido aos deveres estabelecidos no art. 22 do CDC.
Diante dessas considerações, tem-se defendido a incidência da legislação consumerista apenas nas hipóteses em que o usuário do serviço público atue como agente de uma relação de aquisição remunerada do serviço, individualmente e mensurável, ou seja, naqueles serviços uti singuli.
Consequentemente, afasta-se a aplicação do CDC naqueles casos em que a prestação do serviço público é financiada pelo esforço geral e colocado à disposição de toda a coletividade indistintamente, sem a possibilidade de mensuração ou determinação de graus de sua utilização, sendo conhecidos como serviços uti universi.
Nesses termos, não há dúvidas de que o serviço público de saúde é oferecido a toda a coletividade e sem a retribuição financeira direta por seus usuários, porquanto seu financiamento advém da arrecadação tributária e não há possibilidade de se mensurar o grau de utilização de cada um, inclusive sendo ele utilizado pela doutrina como um exemplo de serviço público não subordinado às regras consumeristas.
Dadas tais ponderações, constata-se que o caso em discussão trata exatamente da responsabilidade civil do Estado por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico por parte dos servidores públicos da saúde, mas o acórdão recorrido, aplicando a legislação consumerista, reconheceu a necessidade de inversão do ônus probatório, o que não merece prosperar.
Destaca-se que o afastamento da legislação consumerista não implica a modificação da natureza da responsabilidade civil do Estado, que continua a responder objetivamente por suas condutas comissivas, tratando-se aqui apenas de afastar a inversão do ônus da prova ope legis.
Dessa forma, mostra-se imperioso afastar a incidência do CDC à espécie, reconhecendo-se a regência do regime jurídico de direito administrativo.
Contudo, mesmo que afastada a incidência da legislação consumerista ao caso, ao se constatar a ausência de conhecimentos específicos por parte dos pacientes, sobretudo nos casos em que a situação socioeconômica do paciente é desvantajosa (a exemplo dos atendimentos prestados pelo SUS), pode-se vislumbrar com maior facilidade a sua hipossuficiência técnica capaz de justificar a redistribuição do ônus da prova.
Destaca-se, todavia, que o simples fato de o serviço de saúde ser prestado pelo SUS não implica, necessariamente, a redistribuição do ônus da prova por hipossuficiência técnica do paciente, devendo ele demonstrar a verossimilhança das alegações aduzidas em juízo, de modo que, a partir de então, o Magistrado possa avaliar se o caso requer a adequação do ônus probatório por constatar que o ente público possua maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário ou haja uma dificuldade excessiva na produção da prova por parte do paciente.
Destarte, na hipótese de existência de vulnerabilidades técnica e informacional, ainda que afastada a incidência do CDC no pedido indenizatório decorrente de erro médico na rede pública de saúde, cabível a redistribuição do ônus probatório.
Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 3º, § 2º; e 22.
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025.
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL
Se a genitora levantou do Estado valores em dinheiro para aquisição de medicamentos em favor de seu filho menor incapaz e adquiriu outros remédios, em caráter de urgência, destinados à mesma criança, mostra-se desarrazoada a interrupção do fornecimento do medicamento ao doente como meio sancionatório.
No caso, a genitora de um menor incapaz levantou do Estado valores em dinheiro para aquisição de medicamentos em favor de seu filho e adquiriu outros remédios, em caráter de urgência, destinados à mesma criança, após a cirurgia.
O Tribunal de origem reconheceu o emprego ilícito da verba pública e, ante a impossibilidade material de devolução do dinheiro, determinou a compensação do erário por meio da suspensão do fornecimento do medicamento por um mês.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a responsabilidade não só subsidiária do incapaz, como pela sua responsabilidade mitigada e condicional.
Nesse sentido, ele apenas responde por seus atos próprios quando os responsáveis não tiverem, eles próprios, condições de arcar com as despesas ressarcitórias (responsabilidade subsidiária), e quando essa indenização não comprometer seu próprio sustento ou de seus dependentes (responsabilidade condicional e mitigada).
Dessa forma, o menor incapaz e doente não é responsável nem mesmo pelos ilícitos que ele próprio comete (art. 932, I, do Código Civil - CC/2002), podendo, ainda menos, arcar pessoal e fisicamente pelas ilicitudes eventualmente cometidas por seus responsáveis.
Ademais, no caso em discussão, nem sequer é inequívoco o caráter ilícito do ato, tendo em conta que a verba foi destinada ao tratamento médico da mesma criança, ainda que em medicamento diverso do originalmente (art. 188, I, do CC/2002).
Sendo assim, em qualquer situação, a interrupção do fornecimento de medicamento ao doente como meio sancionador é desarrazoada, até mesmo ante a vedação constitucional (e do próprio direito natural) de imposição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, e, da Constituição Federal - CF/1988).
Código Civil (CC), artigos 188, I; e 932, I.
Constituição Federal (CF), art. 5º, XLVII, "e".
AgInt no AREsp 2.520.394-RS, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 12/2/2025, DJEN 19/2/2025.
DIREITO TRIBUTÁRIO
A remuneração paga ao menor aprendiz deve ser considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições a terceiros, não sendo possível a extensão do benefício fiscal conferido aos menores assistidos, previsto no art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de aplicação da isenção prevista aos menores assistidos, art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, à figura dos menores aprendizes, de modo que os valores pagos a estes sejam excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições a terceiros.
A isenção prevista no art. 4º, § 4º, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, que trata da exclusão dos gastos efetuados pela empresa com os menores assistidos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, não se aplica à remuneração paga no contexto do contrato especial de aprendizagem.
Segundo o dispositivo legal acima mencionado, o termo "menor assistido" refere-se ao contratado com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos, cuja frequência escolar esteja regular, para prestar serviços à empresa com carga horária de 4 (quatro) horas por dia, sem vínculo com a Previdência Social.
Por outro lado, o menor aprendiz, definido no art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, é o jovem de 14 a 24 anos que participa de um programa de formação técnico-profissional. Tal jovem formaliza um contrato especial, que deve ser devidamente anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com uma empresa que se compromete a oferecer a capacitação necessária enquanto recebe os serviços prestados por ele no âmbito dessa formação.
Como se vê, a figura do menor assistido não se confunde com a do menor aprendiz. Assim, nos termos do art. 111 do CTN, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a interpretação literal das normas que outorgam isenção ou exclusão de obrigação tributária, não é possível a extensão do benefício fiscal conferido pelo § 4º do art. 4º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 à remuneração paga aos menores aprendizes.
Ademais, devido à similaridade com a base de cálculo da contribuição previdenciária, o raciocínio acima se aplica igualmente ao RAT e às contribuições destinadas a terceiros (AgInt no REsp n. 1.962.721/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022).
Decreto-Lei n. 2.318/1986, art. 4º, § 4º
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 428
Código Tributário Nacional (CTN), art. 111
REsp 2.170.872-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025.
DIREITO CIVIL, DIREITO DIGITAL
Não há necessidade de prévia informação por parte do provedor de aplicação sobre a porta lógica para que o provedor de conexão disponibilize os demais dados de identificação do usuário, pois também está obrigado a armazenar e fornecer o IP (e, portanto, a porta lógica).
Cinge-se a controvérsia em decidir se o provedor de conexão deve individualizar o usuário diante de identificação do IP, sem a informação de porta lógica.
Em resumido histórico, já explorado em detalhes pela Terceira Turma do STJ quando do julgamento do REsp 1.777.769 (DJe 8/11/2019), os números IPs da versão 4 (IPv4) são finitos, necessitando de adaptações e novas versões que permitam sua expansão. Atentos ao esgotamento dos números de IP, especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6 (IPv6), que permite uma quantidade virtualmente inesgotável de endereços. Enquanto não for finalizada a transição para o IPv6, a univocidade do número IP depende da associação de número adicional, a chamada porta de origem (ou porta lógica).
Na hipótese, uma empresa ajuizou ação cominatória em face de provedor de conexão, buscando individualizar o usuário que enviou e-mail difamatório para seus clientes e colaboradores. O provedor de conexão em sua defesa argumentou que não seria possível individualizar o remetente, porque a ausência de informação quanto à porta lógica, somada ao intervalo de conexão impreciso (10 minutos), indicam mais de quinhentos usuários do mesmo IP.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tanto provedores de aplicação quanto provedores de conexão têm a obrigação de guardar e fornecer as informações relacionadas à porta lógica de origem.
Dessa forma, não há necessidade de prévia informação por parte do provedor de aplicação sobre a porta lógica para que o provedor de conexão disponibilize os demais dados de identificação do usuário, pois também esse segundo agente está obrigado a armazenar e fornecer o IP (e, portanto, a porta lógica).
Na requisição judicial de disponibilização de registros (art. 10, §1º, Marco Civil da Internet), para identificação de usuário, não há necessidade de especificação do minuto exato de ocorrência do ilícito.
Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 10, §1º
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 24/3/2025.
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO DA SAÚDE
A recusa dos pais em vacinar filho ou adolescente contra a COVID-19, mesmo advertidos dos riscos de sua conduta pelo Conselho Tutelar Municipal e pelo Ministério Público Estadual, autoriza a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA.
Cinge-se a controvérsia em decidir se é obrigatória a vacinação de criança e adolescente contra a COVID-19 no território nacional.
A autoridade parental teve sua significação modificada a partir da Constituição Federal de 1988: o que antes se entendia como um poder de chefia do marido para com seus filhos, a partir da Constituição passou-se a entender como um poder-dever dos pais e das mães de cuidarem e protegerem seus filhos. Encontra suas balizas no princípio da paternidade responsável e na doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, posto que, consoante determina o art. 5º do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência aos seus direitos fundamentais.
O exercício da parentalidade enfrenta diversas complexidades, uma vez que a intervenção parental é essencial, especialmente em tenra idade, pois a vulnerabilidade das crianças impede que compreendam o que é melhor para seu saudável desenvolvimento. Essa autonomia, no entanto, não é absoluta: quando a Constituição confia aos pais a tarefa primordial de cuidar dos filhos, não lhes credita permissão para abusos.
O direito à saúde da criança e do adolescente é albergado pelo ECA, em seu art. 14, §1º, o qual determina a obrigatoriedade da vacinação de crianças quando recomendado por autoridades sanitárias.
Salvo eventual risco concreto à integridade psicofísica da criança ou adolescente, não lhe sendo recomendável o uso de determinada vacina, a escusa dos pais será considerada negligência parental, passível de sanção estatal, ante a preponderância do melhor interesse sobre sua autonomia.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 1267879/SP, fixou o Tema n. 1103, estabelecendo como requisitos para a obrigatoriedade de vacinação: a) inclusão no Programa Nacional de Imunizações; ou b) determinação da obrigatoriedade prevista em lei; ou c) determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, fundada em consenso médico-científico.
A vacinação infantil não significa, apenas, a proteção individual de crianças e adolescentes, mas representa um pacto coletivo pela saúde de todos, a fim de erradicar doenças ou minimizar suas sequelas, garantindo-se uma infância saudável e protegida.
Portanto, a vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória, pois assim prevê o art. 14, §4º do ECA. A recusa em vacinar criança ou adolescente contra a COVID-19, mesmo advertidos dos riscos de sua conduta pelo Conselho Tutelar Municipal e pelo Ministério Público Estadual, caracteriza o descumprimento dos deveres inerentes à autoridade familiar, autorizando a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA.
Tema n. 1103/STF
REsp 2.095.463-PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Para fins de verificação do interesse de agir, a pretensão da querela nullitatis pode ser formulada em demanda em que se apresenta como questão incidental ou prejudicial para o exame de outros pedidos, prescindindo de ação declaratória específica e autônoma para tanto.
A controvérsia consiste em decidir se, para fins de verificação do interesse de agir como condição da ação, a pretensão de querela nullitatis (para declaração de nulidade de sentença transitada em julgado por vício transrescisório) deve ser requerida em ação declaratória específica e autônoma ou se pode ser formulada em demanda em que se apresenta como questão incidental ou prejudicial para o exame de outros pedidos.
Inicialmente, é válido esclarecer que, após o prazo decadencial de dois anos para ação rescisória (art. 975 do Código de Processo Civil), como regra, forma-se a chamada "coisa julgada soberana".
No entanto, conforme leciona a doutrina, "existem nulidades absolutas tão graves, tão ofensivas ao sistema jurídico, que a sua manutenção é algo absolutamente indesejado; surgem os chamados vícios transrescisórios, que apesar de serem situados no plano da validade não se convalidam, podendo ser alegados a qualquer momento, como ocorre com o vício ou inexistência da citação".
Nesse contexto, vício transrescisório representa nulidade que, dado seu elevado grau de ofensividade ao sistema jurídico, não pode ser mantida ainda que decorrente de decisão transitada em julgado e após ultrapassado o prazo decadencial da ação rescisória.
Diante da gravidade dos vícios transrescisórios (como ocorre diante da falta de citação), a ordem jurídica admite o reconhecimento da nulidade da decisão transitada em julgado a qualquer momento, por meio da chamada querela nullitatis insanabilis (reclamação de nulidade incurável), ou apenas querela nullitatis.
A pretensão da querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual (artigos 3º, 4º, 6º e 8º do CPC). Em decorrência disso, o STJ tem admitido a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios sem a exigência de propositura de uma ação específica.
É dizer que a querela nullitatis, ou reclamação de nulidade, para o reconhecimento de vício transrescisório, tem sido visualizada, pelo STJ, como pretensão e não como procedimento. Com isso, afasta-se o excesso de formalismo, para admitir o reconhecimento da nulidade de decisões maculadas por defeitos transrescisórios por meio de diferentes formas de tutela jurisdicional.
Ademais, segundo o STJ, a decisão maculada por tal tipo de vício "jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória (querella nullitatis) a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por diversos outros meios".
Outro relevante exemplo que se extrai da jurisprudência do STJ é a possibilidade de que a pretensão da querela nullitatis seja julgada por meio de ação rescisória ajuizada após o prazo decadencial. Em tais casos, a demanda não deve ser extinta, por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, mas deve ser remetida pelo Tribunal de ofício ao primeiro grau, para apreciada como ação declaratória de nulidade.
Portanto, a pretensão da querela nullitatis, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança).
AgInt no REsp 2.076.261-AP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 11/3/2025.
DIREITO CIVIL
É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial de bem oferecido em alienação judiciária.
Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada para cobrança de saldo remanescente decorrente da venda de veículo alienado fiduciariamente.
A sentença acolheu a preliminar de carência de ação e extinguiu o processo sem resolução por entender que a notificação extrajudicial cientificando da venda e da existência de débito foi encaminhada ao endereço da parte quase 1 ano após a venda do bem. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença, sob o fundamento de que "não houve comunicação prévia ao devedor, requisito necessário para a continuidade do feito".
Nesse contexto, o entendimento adotado nas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ sobre o dever de comunicação prévia ao devedor em tal circunstância (AgInt nos EDcl no REsp 1.931.921/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).
Na aplicação do art. 2º do Decreto 911/1996, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, de modo a proporcionar-lhe a defesa de seus interesses, especialmente ante a possibilidade de o credor vir a lhe cobrar eventual saldo remanescente posteriormente (AgInt no REsp 1.800.044/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).
Decreto 911/1996, art. 2º
EDcl no REsp 1.918.602-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 17/2/2025, DJEN 12/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
A prescrição intercorrente aplica-se nos casos em que o credor, não apresentando justificativa válida, deixa de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução, no prazo previsto em lei.
A controvérsia versa em analisar se a ausência de justificativa válida para a inércia do credor compromete o prosseguimento da execução, à luz dos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.
No caso concreto, a decisão analisou o longo período de inércia do credor, destacando que, entre os atos processuais relevantes - o registro da penhora em 2011 e o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em 2015 -, decorreu o prazo prescricional de três anos previsto na Súmula n. 150 do STF e na Lei Uniforme de Genebra para notas promissórias.
Em razão disso, a prescrição intercorrente foi reconhecida com fundamento em sua natureza de ordem pública, o que possibilita, inclusive, o reconhecimento ex officio.
Tal conclusão decorreu da análise objetiva da inércia do credor, aplicando os princípios que norteiam o processo executivo e em perfeito alinhamento com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com a legislação aplicável.
Além disso, foi observado que o credor não apresentou justificativa válida para a inatividade processual durante esse período, evidenciando a ausência de diligência necessária para o prosseguimento da execução.
Logo, a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto aplicou corretamente os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, evitando a perpetuação de litígios inertes e promovendo a estabilidade das relações jurídicas.
Ademais, a decisão determinou a extinção da execução sem ônus às partes, fundamentando-se na boa-fé processual e na ausência de resistência injustificada do credor em relação à prescrição intercorrente.
Este entendimento está em conformidade com o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, que prevê a extinção sem custos em hipóteses de prescrição intercorrente, pois não foi identificada conduta culposa ou dolosa do credor que justificasse a aplicação de ônus sucumbenciais em favor da parte contrária, de modo que a decisão respeitou o equilíbrio entre os princípios da causalidade e da ausência de culpa das partes.
REsp 2.072.667-PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 11/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
O magistrado que se declara suspeito por motivo superveniente pode requerer o cancelamento de seu voto se o fizer antes de concluído o julgamento com a proclamação do resultado.
O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, no § 1º do art. 941, regra expressa a respeito da modificação de voto nos julgamentos colegiados, fixando limitação de ordem temporal e subjetiva para tanto: "o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído".
Na hipótese, o Desembargador havia proferido seu voto em sessão de julgamento, acompanhando o relator, que negava provimento ao recurso, seguindo-se pedido de vista do desembargador presidente. Todavia, na sessão seguinte, pediu que fosse anotada sua suspeição por questão de foro íntimo, tendo esclarecido tratar-se de suspeição por fato superveniente; e requereu fosse anulado seu voto.
Tal fato ensejou a renovação do julgamento para permitir a leitura do relatório e voto perante o novo integrante convocado para compor o colegiado, oportunidade em que o relator modificou seu entendimento anterior para dar provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo novo integrante. Houve pedido de vista do presidente, que abriu divergência, negando provimento ao agravo de instrumento.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a suspeição decorrente de fato superveniente não tem efeitos retroativos, deixando de acarretar a nulidade dos atos anteriormente praticados.
Isso não significa, contudo, não possa o magistrado que se declara suspeito por motivo superveniente requerer o cancelamento de seu voto antes de concluído o julgamento com a proclamação do resultado.
No presente caso, o cancelamento do voto foi solicitado pelo próprio prolator e quando ainda em curso o julgamento. Da mesma forma, não há falar em comprometimento do princípio do juiz natural.
Código de Processo Civil (CPC), art. 941, § 1º
REsp 2.072.667-PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 11/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
A técnica de julgamento ampliado aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando na fase de liquidação de sentença, o acórdão prolatado valida os cálculos apresentados pela parte credora (definição do quantum debeatur).
A técnica do julgamento ampliado somente se aplica ao agravo de instrumento quando houver reforma de decisão que julgar parcialmente o mérito (art. 942, § 3º, II, do Código de Processo Civil de 2015).
A definição do quantum debeatur tem caráter integrativo da sentença proferida na fase de conhecimento, possuindo, portanto, a mesma natureza desta. Na liquidação de sentença, seja ela por arbitramento, por artigos ou por cálculos, o juiz decide parte da lide ainda não decidida, ou seja, profere decisão com conteúdo meritório e que fará coisa julgada material.
Dessa forma, o acórdão prolatado em agravo de instrumento que, aplicando a presunção de que trata o art. 475-B, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, valida os cálculos apresentados pela parte credora tem conteúdo meritório e enseja a aplicação da técnica do julgamento ampliado.
Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 942, § 3º, II
Código de Processo Civil (CPC/1973), art. 475-B, § 2º
AgRg no REsp 2.192.889-MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Condenação. Alegação de existência exclusiva de testemunhos de "ouvir dizer". Testemunhas afirmando que a comunidade possui pavor do denunciado. Crime envolvendo conflito com o tráfico de drogas. Distinguishing. Excepcionalidade que justifica a inexistência de depoimentos de testemunhas oculares do delito.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, o temor que o denunciado exerce na comunidade justifica a inexistência de depoimentos de testemunhas oculares do delito.
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Segundo entendimento do STJ, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP." (AREsp 1.940.381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).
Contudo, no caso, apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, verifica-se que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas.
Note-se que a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima.
Portanto, embora a jurisprudência do STJ considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, a especificidade do caso, em que a comunidade teme os acusados, envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais, merece um distinguishing.
Código de Processo Penal (CPP), art. 209, § 1º
AgRg no HC 953.647-SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 26/2/2025, DJEN 7/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
A tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária, vedada pelo art. 474-A do Código de Processo Penal.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de acesso aos registros criminais da vítima configura cerceamento de defesa, especialmente no contexto do Tribunal do Júri.
Inicialmente, frise-se que o poder conferido ao magistrado para conduzir o processo e realizar o juízo de admissibilidade das provas encontra respaldo não apenas no art. 251 do Código de Processo Penal, mas decorre da própria função jurisdicional e do poder geral de cautela que lhe é inerente.
A pretensão de vasculhar o histórico criminal e os boletins de ocorrência da ofendida revela nítida tentativa de desqualificação de seu testemunho com base em circunstâncias alheias ao caso concreto. Embora se sustente que não pretende promover um "espetáculo vexatório", a estratégia defensiva escolhida configura evidente hipótese de revitimização secundária.
O ordenamento jurídico brasileiro, em sua evolução legislativa recente, tem se orientado justamente no sentido oposto, buscando coibir práticas que perpetuem a violência institucional contra vítimas de crimes. Nesse contexto, merece destaque a Lei n. 14.245/2021, que introduziu o art. 474-A no Código de Processo Penal, estabelecendo verdadeira regra de conduta ao magistrado.
O referido dispositivo veda expressamente a utilização de informações relacionadas à pessoa ofendida que possam malferir sua dignidade. Tal inovação normativa representa significativo avanço civilizatório, refletindo a compreensão de que o processo penal não pode ser instrumentalizado como meio de perpetuação da violência já experimentada.
O argumento de que o procedimento do Tribunal do Júri demandaria maior flexibilidade na produção probatória tampouco se sustenta. Isso porque, a plenitude de defesa, princípio basilar do procedimento escalonado do júri, não autoriza práticas proscritas pelo ordenamento jurídico, como a violência institucional expressamente vedada pelo art. 15-A da Lei n. 13.869/2019 (incluído pela Lei n. 14.321/2022).
Ademais, a análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme orientação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, revela que a pretensão defensiva poderia reforçar estereótipos e assimetrias historicamente utilizados para desqualificar a palavra feminina no âmbito do sistema de justiça criminal.
É importante ressaltar que tal compreensão não implica qualquer mitigação do direito à ampla defesa ou à presunção de inocência do acusado. Trata-se, em verdade, de adequar a atividade probatória aos limites estabelecidos pela legislação processual penal, interpretada em consonância com os compromissos constitucionais e convencionais assumidos pelo Estado Brasileiro na proteção dos direitos humanos das mulheres.
HC 894.787-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 26/2/2025, DJEN 10/3/2025.
DIREITO PENAL
A medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente.
A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança aplicada ao paciente deve ser limitada ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, conforme a Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou se deve ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal (CP).
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, quando a medida de segurança é aplicada em substituição à pena corporal, no curso da execução penal, sua duração deve ser limitada ao tempo restante da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória original, nos termos do art. 183 da Lei de Execução Penal (LEP).
No entanto, a medida de segurança não foi imposta em substituição à pena privativa de liberdade previamente aplicada, mas sim na sentença absolutória imprópria, dada a inimputabilidade do paciente. Assim, a hipótese não se subsume ao enunciado da Súmula 527 do STJ, pois não há pena privativa de liberdade a ser utilizada como referência para a duração da medida de segurança.
Ademais, o art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança será mantida enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade do agente.
Dessa forma, a jurisprudência do STJ entende que a cessação da periculosidade é condição essencial para a desinternação de paciente inimputável, sendo necessário que tal condição seja demonstrada de forma inequívoca e segura.
Em casos de dúvida, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, que orienta a manutenção da medida de segurança em prol da segurança pública (HC 878.047/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024).
Código Penal (CP), art. 97, § 1º
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), art. 183
HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Enquanto não se atinge o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial.
O caso sob exame traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas - de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 -, cujo caráter permanente autorizaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema STF n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
Depois do julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou - sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017) - a tentar dar concretude à expressão "fundadas razões", por se tratar de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência prévia (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
A discussão, em geral, gira em torno de saber se, dada a narrativa fática trazida pelos policiais sobre os elementos que tinham antes de realizar a medida invasiva, ela foi válida ou não.
Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal, pontualmente, vem avançando para analisar também, à luz das regras de direito probatório, a suficiência da versão policial, sobretudo quando se trata de versão inverossímil, incoerente ou infirmada por algum elemento dos autos.
Passa a ser relevante nesses casos, portanto, saber não apenas se aquele contexto fático descrito pela polícia autorizava ou não a ação, mas também se foi atingido o standard probatório para que aquela versão possa efetivamente ser considerada provada.
Tomando como experiência estrangeira sobre a temática em julgamento, vale mencionar que, nos Estados Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio (1961) - no qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule) aos tribunais estaduais -, observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que tornavam a apreensão das substâncias válida.
Em um estudo empírico que analisou quase quatro mil autos de prisão em flagrante no distrito de Manhattan no período de seis meses antes e seis meses depois do julgamento do caso Mapp, constatou-se um aumento de até 85,5% desse tipo de descrição da ocorrência, fenômeno comportamental que ficou conhecido como dropsy testimony, em razão do verbo to drop (soltar/largar).
Outro estudo realizado na cidade de Nova Iorque em período similar chegou a resultados parecidos e concluiu que "Mudanças suspeitas nos dados de prisões após o julgamento do caso Mapp indicam claramente que muitas alegações policiais foram alteradas para se adequarem aos requisitos de Mapp".
O dropsy testimony, naquele país, foi visto como parte de um fenômeno mais amplo, conhecido como testilying, mistura do verbo testify (testemunhar) com lying (mentindo), prática associada à conduta de distorcer os fatos em juízo para tentar legitimar uma ação policial ilegal, como, por exemplo, "fabricar" a justa causa para uma medida invasiva. No cenário brasileiro, esse fenômeno é conhecido, no jargão policial, por "arredondar a ocorrência", ou seja, "tornar transparente uma situação embaraçosa".
É o que frequentemente se vê, por exemplo, nos casos em que se alega de maneira absolutamente inverossímil que o réu, depois de abordado e revistado em via pública, sem nenhum objeto ilícito, milagrosamente convidou o policial para ir até a sua casa e consentiu com a realização de uma busca que resulta na apreensão de quilos de drogas que lhe custarão anos na prisão.
O cenário descrito traz de volta à tona a discussão sobre o valor probatório do testemunho policial, meio de prova admitido e ainda visto como relevante por esta Corte, mas que gradativamente vem sofrendo importantes relativizações, sobretudo em contextos nos quais a narrativa dos agentes se mostra claramente inverossímil.
Reforça-se, nessa conjuntura, a importância da corroboração do depoimento policial por outros elementos independentes, cujo principal e mais confiável exemplo é a filmagem por meio de câmeras corporais, na linha do que já se externou em outros julgamentos desta Corte.
Também nos EUA, aliás, essa "regra de corroboração" (corroboration rule) é apontada como uma das principais formas de enfrentar os fenômenos dropsy e testilying.
Enquanto não se atinge o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280: "O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio".
Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência - interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, conforme decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 14/5/2024).
Para isso, é fundamental repensar práticas usuais e inadequadas que dificultam o exercício desse especial escrutínio sobre o testemunho policial. Uma delas é o frequente "copia e cola" dos depoimentos dos agentes no inquérito, o qual sugere que ou eles foram ouvidos juntos - em violação da incomunicabilidade das testemunhas - ou apenas um deles foi ouvido - do que decorre a falsidade do segundo termo de depoimento.
Outro expediente a ser repelido é a leitura integral do boletim de ocorrência para os policiais em juízo a fim de que apenas confirmem o seu teor, prática que gera induzimento da resposta (art. 212, caput, do CPP), burla indevidamente a vedação a que a testemunha traga suas declarações por escrito (art. 204, caput, do CPP) e configura verdadeiro simulacro de depoimento, o que deve ser substituído por um relato inicial livre e espontâneo do agente sobre os fatos, de modo a permitir um exame efetivo da narrativa apresentada sob o crivo do contraditório.
Isso não significa, naturalmente, desprezar como regra o depoimento policial ou presumir a sua falsidade, mas apenas repensar a crença ingênua e dissociada da realidade de que policiais nunca faltam com a verdade.
Portanto, Judiciário e Ministério Público devem ter a coragem necessária para "chamar as coisas pelo nome certo" e exercer o devido controle sobre a atividade policial.
No caso, de acordo com a versão acusatória, a entrada dos policiais na residência do acusado haveria sido supostamente embasada no seguinte contexto fático: a) os policiais abordaram o corréu porque ele estava transitando com sua motocicleta e quase colidiu com a viatura; b) ele confessou espontaneamente que tinha drogas na mochila e indicou o endereço e as características físicas do paciente e suposto fornecedor das substâncias; c) os policiais foram até o endereço informado e chamaram pelo morador, mas, antes que ele abrisse o portão, os agentes o teriam visto arremessar, de dentro da casa, entorpecentes, uma balança de precisão e um celular para outra casa; d) a esposa do suposto fornecedor abriu o portão; e) foi realizada busca domiciliar e, nela, apreenderam-se drogas.
Observa-se, no entanto, a existência de relevante conflito de versões, de importantes contradições nos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência e total inverossimilhança da narrativa por eles apresentada em cotejo com a versão do acusado. Ademais, é incontroverso nos autos que, apenas dois meses antes dos fatos ora analisados, o réu havia sido absolvido em outro processo de tráfico, em razão de haver sido torturado com agressões físicas e choques elétricos por policiais militares do mesmo batalhão. A tortura foi reconhecida pela Corregedoria da própria PM ao final do procedimento administrativo instaurado contra os agentes para apurar os fatos e também pelo Tribunal de origem, quando julgou a apelação e absolveu o réu.
Segundo o réu e as testemunhas de defesa, o fato de ele haver denunciado a tortura dos policiais deu causa a episódios de intimidação e retaliação. Ainda que não fossem exatamente os mesmos policiais que foram condenados pela tortura ao acusado, tratava-se de agentes do mesmo batalhão de ações especiais e o contexto descrito nos autos corrobora a tese de retaliação contra o paciente, por haver denunciado a tortura que sofreu por parte de alguns membros do grupo. Relatos sobre esse tipo de prática, aliás, não são raros em situações nas quais ilegalidades praticadas por policiais são expostas.
É clara a ausência de consentimento livre e voluntário para ingresso no imóvel, uma vez que o paciente falou para sua esposa abrir o portão só para que os policiais não o arrombassem, já que estavam tentando forçá-lo, de modo que a mera submissão à força policial não pode ser considerada consentimento livre e voluntário. Desde sua oitiva na delegacia, aliás, o réu sempre deixou claro que, "como os policiais estavam quase arrombando o portão, sua esposa abriu e eles entraram".
Assim, diante do conflito entre a versão acusatória, bastante inverossímil, e a do acusado, a qual está amparada no depoimento de duas testemunhas e de uma informante, não há como considerar provada a existência da justificativa apresentada para a realização da busca domiciliar, de modo que se deve reconhecer a ilicitude da diligência e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduz à absolvição do acusado.
Cabe salientar, que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com antigo brocardo jurídico in dubio pro reo.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
HC 969.749-RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 18/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Não é possível rediscutir cláusulas de acordo de não persecução penal validamente celebrado e homologado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir as cláusulas de acordo de não persecução penal já celebrado e homologado, sob alegação de onerosidade excessiva, sem violar o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.
O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, constitui negócio jurídico de natureza pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o investigado, que visa obstar o oferecimento da denúncia mediante o cumprimento de determinadas condições.
Trata-se de instituto que expressa o modelo consensual de justiça criminal, no qual se privilegia a autonomia da vontade do investigado que, assistido por defesa técnica, aceita cumprir determinadas condições em troca do não oferecimento da denúncia, para não se submeter ao processo penal tradicional, com todos os seus ônus e possíveis consequências mais gravosas.
A jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de que, uma vez celebrado e homologado o ANPP, não é possível a rediscussão de suas cláusulas, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).
Com efeito, consoante já decidido pela Quinta Turma do STJ, "comportamentos contraditórios como o da defesa, além de violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), aplicável a todos os sujeitos processuais e ao processo penal, vai de encontro ao objetivo da justiça penal negocial, gerando processos e gastos que deveriam ser evitados com o ANPP, além de enfraquecer o instituto, que acaba sendo utilizado como subterfúgio para postergar o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público." (AgRg no RHC 196.094/SP, Ministro Reynaldo Soreas da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024).
No caso, a defesa sustenta que as cláusulas do ANPP são mais onerosas do que uma eventual pena condenatória, especialmente no que concerne ao perdimento da motocicleta em favor da União e à prestação de serviços à comunidade, notadamente considerando a ausência de antecedentes criminais do paciente.
Contudo, observa-se que o paciente foi assistido por defensor público por ocasião da celebração do acordo, e ainda assim optou por aceitá-lo nos termos propostos pelo Ministério Público. A alegação posterior de que as cláusulas seriam excessivamente onerosas caracteriza inequívoco comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações processuais.
Nesse sentido, o art. 565 do Código de Processo Penal estabelece que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, reforçando a vedação ao comportamento contraditório no âmbito processual penal.
Ora, a reanálise da proporcionalidade das condições pactuadas, após a homologação judicial do acordo, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, comprometeria a própria segurança jurídica e a credibilidade do instituto, desestimulando o Ministério Público a oferecer novos acordos e prejudicando futuros investigados que poderiam se beneficiar dessa alternativa à persecução penal tradicional.
Por fim, cabe destacar que o habeas corpus, por seu rito célere e natureza urgente, não constitui via adequada para a rediscussão das cláusulas de um acordo validamente celebrado e homologado, sobretudo quando não há demonstração de flagrante ilegalidade que justifique a intervenção excepcional desta Corte.
AgRg no RHC 177.305-SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 5/3/2025, DJEN 11/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
O fato de não constar o nome do magistrado no corpo de decisão proferida em processo eletrônico não a torna nula por falta de autenticidade, tendo em vista que a própria assinatura digital já é suficiente para considerá-la válida.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência do nome do magistrado em decisão proferida em processo eletrônico caracteriza nulidade processual.
A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, no parágrafo único do art. 8º, que todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei.
No caso, a ação cautelar de interceptação telefônica tramitou integralmente na instância de origem em meio eletrônico, de modo que o impulsionamento do feito pressupõe que as decisões sejam proferidas mediante assinatura eletrônica do Juiz de primeiro grau.
A decisão questionada foi assinada digitalmente e consta regularmente nos autos, inexistindo indícios de invalidade do ato processual. Isso porque a assinatura digital é suficiente para validar decisões judiciais em processos eletrônicos, conforme estabelecido na Lei n. 11.419/2006.
Ademais, embora a defesa alegue que não teria visualizado no sistema eletrônico a assinatura do magistrado, é possível verificar, na sequência, a existência de Alvará de Quebra de Sigilo Telefônico, firmado com assinatura física do Juiz de Direito, de modo que a referida decisão, ainda que não tivesse sido, por lapso, assinada - o que seria impossível, por se tratar de processo eletrônico -, considera-se posteriormente convalidada.
Lei n. 11.419/2006, art. 8º, parágrafo único
ProAfR no REsp 2.171.177-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025. (Tema 1315).
ProAfR no REsp 2.175.268-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025 (Tema 1315).
ProAfR noo REsp 2.171.003-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 18/3/2025, DJEN 21/3/2025 (Tema 1315).
DIREITO DO CONSUMIDOR
A Segunda Seção acolheu a proposta de afetação do REsp 2.171.177-RS, REsp 2.175.268-RS e REsp 2.171.003-RS ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito das seguintes controvérsias: "definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação - com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo - realizadas pelos referidos bancos e cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do art. 43, § 2º, do CDC".
Edição Especial de 35 anos do STJ (volume I)
edição que contém 31 notas de julgados de todos os ministros ativos em 2024
Edição Especial de 35 anos do STJ (volume II)
edição que contém 35 notas de julgados que marcaram a atuação do STJ como o Tribunal da Cidadania