Processos
Espaço do servidor
Pró-Ser
Gestão de Desempenho
Ministros
Gestão de Documentos
Jurisprudência
Pesquisa
Súmulas
Outros
- Legislação Aplicada
- Vocabulário Jurídico
- Informativo de Jurisprudência
- Jurisprudência em Teses
- Repetitivos e IACs Organizados por Assunto
- Íntegra de Acórdãos
- Revista Eletrônica de Jurisprudência
- Repositórios autorizados de Jurisprudência
Publicações
Biblioteca
Entidades Relacionadas
Sessão de Julgamento
Serviços
Certidões
SISBAJUD
Legislação
Visitação ao STJ
Concursos e estágios
Ouvidoria
Ajuda
Informativo de Jurisprudência
Filtrar Resultados
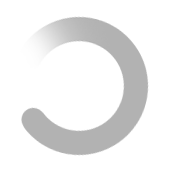
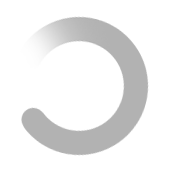
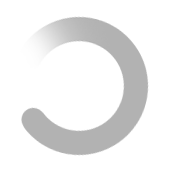
Coletâneas anuais
Anuário por Ramos do Direito:
Edições Anuais Compiladas:
Edição comemorativa dos 35 anos do STJ - Volume I
3 de abril de 2024
EREsp 1.874.222-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Penhorabilidade de salário. Execução. Percentual de Verba salarial. Importância que não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Impenhorabilidade. Relativização. Possibilidade. Caráter Excepcional. Preservação do montante que assegure à subsistência digna do devedor e de sua família. Observância.
Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.
A divergência reside em definir se, na hipótese de pagamento de dívida de natureza não alimentar, a impenhorabilidade está condicionada apenas à garantia do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família ou se, além disso, há que ser observado o limite mínimo de 50 salários mínimos recebidos pelo devedor.
De precedente da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 27/2/2019), é possível extrair que a exegese do dispositivo processual (art. 649, IV, do CPC/1973) deve ser orientada também pela teoria do mínimo existencial, admitindo a penhora da parcela salarial excedente ao que se pode caracterizar como notadamente alimentar. Prosseguindo e lançando o olhar sobre o critério previsto no § 2º do art. 833 do CPC/2015 - na parte alusiva às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais - salientou-se o descompasso do critério legal com a realidade brasileira, a implicar na sua ineficácia.
Ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, o novo Código de Processo Civil passa a tratar a impenhorabilidade como relativa, permitindo que seja atenuada à luz de um julgamento principiológico, em que o julgador, ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, conceda a tutela jurisdicional mais adequada a cada caso, em contraponto a uma aplicação rígida, linear e inflexível do conceito de impenhorabilidade.
Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
A fixação desse limite de 50 salários mínimos merece críticas, na medida em que se mostra muito destoante da realidade brasileira, tornando o dispositivo praticamente inócuo, além de não traduzir o verdadeiro escopo da impenhorabilidade, que é a manutenção de uma reserva digna para o sustento do devedor e de sua família. Segundo a doutrina, "Restringir a penhorabilidade de toda a 'verba salarial' ou apenas permiti-la no que exceder cinquenta salários mínimos, mesmo quando a penhora de uma parcela desse montante não comprometa a manutenção do executado, pode caracterizar-se como aplicação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente".
Portanto, mostra-se possível a relativização do § 2º do art. 833 do CPC/2015, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
Importante salientar, porém, que essa relativização reveste-se de caráter excepcional e dela somente se deve lançar mão quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e, repita-se, desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.
Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), art. 649, IV,
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), art. 833, § 2º.
Saiba mais:
REsp 2.015.301-MA, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 13/9/2023, DJe 15/09/2023 (Tema 1199).
REsp 2.036.429-MA, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 13/9/2023, DJe 15/9/2023 (Tema 1199).
DIREITO ADMINISTRATIVO
Recursos Repetitivos - Tema 1199 - Procedimento de demarcação de terrenos de marinha. Terreno de marinha. Procedimento de demarcação. Ato jurídico de chamamento de interessados à participação colaborativa por meio de edital. Validade do ato. Período compreendido entre 31/05/2007 até 28/03/2011. Produção de efeitos jurídicos da alteração legislativa do art. 11 do Decreto-lei n. 9.760/1946 promovida pelo art. 5º da Lei n. 11.481/2007.
Nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos à participação colaborativa com a Administração formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de 31/05/2007 até 28/03/2011, em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do art. 11 do Decreto-lei n. 9.760/1946 promovida pelo art. 5º da Lei n. 11.481/2007.
A controvérsia consiste em decidir acerca da validade, ou não, dos procedimentos demarcatórios de terrenos de marinha nos quais o chamamento de eventuais interessados, com fundamento no art. 11 do Decreto-lei 9.760/1946, tenha ocorrido somente por meio de notificação por edital.
O art. 5º da Lei n. 11.481, de 31/05/2007, estatuiu que "para a realização da demarcação, a SPU convidará os interessados, por edital, para que no prazo de 60 (sessenta) dias ofereçam a estudo plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando".
Antes da Lei n. 11.481/2007, eventuais interessados "certos" - conhecidos pela Administração Pública - tinham o direito subjetivo de serem pessoalmente notificados acerca do início do procedimento demarcatório dos terrenos de marinha situados no município de seu domicílio. A partir da Lei n. 11.481/2007, esse direito foi suprimido, sendo todos os potenciais interessados, certos ou indeterminados, notificados por meio de simples chamamento editalício.
A modificação da posição jurídica dos particulares em contato com a Administração Pública redundou na busca pela invalidação da alteração legislativa introduzida pela Lei n. 11.481/2007, o que se deu, em 2009, por meio da propositura de ação direta de inconstitucionalidade pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 4.264/PE). Nessa ação de controle concentrado de constitucionalidade, requereu-se a concessão de medida cautelar, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.868/1999, a fim de que o STF, liminarmente, promovesse a suspensão da eficácia do art. 11 do DL n. 9.760/46, na redação a ele conferida pelo art. 5º da Lei n. 11.481/2007.
O julgamento do pleito cautelar, no Plenário do STF, foi concluído somente em 16/3/2011, oportunidade em que prevaleceu, por apertada maioria, posição favorável ao pleito no sentido de que "Ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos interessados, por meio de edital, para subsidiar a Administração na demarcação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal" (STF, Pleno, ADI 4.264/PE-MC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado 16/3/2011, DJe 28/3/2011).
Nesse sentido, há validade do ato de chamamento, no período em exame e da forma como realizado, que decorre da incidência na espécie do art. 11, § 1º-A, da Lei n. 9.868/1999, que estabelece, como regra, a eficácia meramente prospectiva ("ex nunc") da medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade.
Dessa forma, ainda que o STF tenha deferido a medida cautelar no bojo da ADI 4.264/PE para o fim de suspender a eficácia da nova redação conferida ao art. 11 do DL n. 9.760/1946 pelo art. 5º da Lei n. 11.481/2007, essa suspensão não afetou os atos jurídicos realizados antes do deferimento da liminar, os quais, portanto, por ela não foram invalidados.
Por fim, com a extinção da ADI 4.264/PE por "perda superveniente do objeto" nos idos de 2018, deixou de existir, no mundo jurídico, a medida cautelar antes deferida, não tendo havido, portanto, pronunciamento definitivo pelo STF quanto à constitucionalidade do art. 5º da Lei n. 11.481/2007. Deve prevalecer, assim, ao menos no período anterior ao da suspensão da eficácia da norma impugnada, a presunção de constitucionalidade inerente a toda e qualquer lei ou ato normativo.
Assim, fixa-se a seguinte tese: nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos à participação colaborativa com a Administração formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de 31/05/2007 até 28/03/2011, em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do art. 11 do Decreto-lei n. 9.760/1946 promovida pelo art. 5º da Lei n. 11.481/2007.
EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 21/9/2018 (Tema 106).
DIREITO ADMINISTRATIVO
Recursos Repetitivos - Tema 106 - Fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Direito à saúde. Medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Fornecimento pelo Poder Público. Obrigatoriedade. Caráter excepcional. Requisitos cumulativos. Embargos de declaração. Necessidade de esclarecimento. Fornecimento de medicamento para uso off label. Vedação nos casos não autorizados pela ANVISA.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modulam-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se pede que se esclareça, dentre outros pontos, se a necessidade do registro na ANVISA afasta o fornecimento de medicamento de uso off label, que é aquele em que o medicamento é utilizado no tratamento de patologias não autorizado pela agência governamental e, por conseguinte, não se encontra indicado na bula. Verifica-se que o art. 19-T da lei n. 8.080/1990 impõe duas vedações distintas.
A constante do inciso I veda o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de medicamento fora do uso autorizado pela ANVISA, ou seja, para tratamento não indicado na bula e aprovado no registro em referido órgão regulatório. Já o inciso II, impede a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de medicamento que não tenha ainda sido registrado na ANVISA.
Assim, nos termos da legislação vigente, no âmbito do SUS somente podem ser utilizados medicamentos que tenham sido previamente registrados ou com uso autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A exigência desse registro é medida que visa proteger o usuário do sistema de saúde, pois estes medicamentos foram submetidos a estudos clínicos que comprovaram a sua qualidade, a sua efetividade e a sua segurança. Contudo, a ANVISA, com fundamento no art. 21 do Decreto n. 8.077/2013, em caráter excepcional, tem autorizado a utilização de medicamentos fora das prescrições aprovadas no registro.
Sendo assim, ainda que não conste no registro na ANVISA, na hipótese de haver autorização, ainda que precária, para determinado uso, é resguardado o direito do usuário do Sistema Único de Saúde de também ter acesso a utilização do medicamento no uso autorizado não presente no registro. Por seu turno, observa-se que ficou consignado no acórdão embargado que "os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento". No entanto, tal termo inicial suscita dúvidas, podendo ser interpretado de, pelos menos, duas formas: a conclusão do julgamento refere-se ao julgamento do recurso especial, ou seja, o termo inicial da modulação seria a data da assentada que se julgou o repetitivo e fixou-se a sua tese (25/4/2018); ou a conclusão do julgamento impõe o esgotamento da instância, isto é, o termo inicial da modulação seria quando se julgar o último recurso cabível no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, com espeque no inciso I do art. 494 do CPC/2015, que possibilita a correção de ofício de inexatidões materiais, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos do presente repetitivo, que passa a ser a data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 494, inciso I
REsp 1.767.631-SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, por maioria, julgado em 10/5/2023, DJe 1º/6/2023 (Tema 1008).
REsp 1.772.470-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe 1º/6/2023 (Tema 1008).
DIREITO TRIBUTÁRIO
Recursos Repetitivos - Tema 1008 - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Imposto sobre a renda de pessoa jurídica - IRPJ e Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL. Apuração pelo regime do lucro presumido. Inclusão do ICMS nas bases de cálculo. Impossibilidade.
O ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido.
O lucro presumido, como a própria expressão sugere, constitui modalidade de tributação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que envolve presunções em matéria tributária. Utiliza-se a receita bruta como parâmetro a ser considerado para aplicação do percentual destinado à apuração do lucro presumido, que é a base de cálculo sobre o qual incidirá a alíquota, alcançando-se, assim, o valor devido.
Diante da circunstância de que a receita representa, portanto, a grandeza que, em última análise, serve para o cálculo dos tributos em exame, busca-se na espécie, em essência, a observância da ratio decidendi do Tema n. 69/STF, a fim de que seja afastado de sua composição o ICMS. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, nos autos do RE n. 574.706/PR, decidiu, em caráter definitivo, por meio de precedente vinculante, que os conceitos de faturamento e receita, contidos no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, não albergam o ICMS, considerado aquele destacado na nota fiscal, pois os valores correspondentes a tal tributo estadual não se incorporaram ao patrimônio dos contribuintes.
Foi firmada a seguinte tese da repercussão geral: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" (Tema n. 69/STF). Ocorre que esse entendimento deve ser aplicado tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS, porquanto realizado exclusivamente à luz do art. 195, I, "b", da Constituição Federal, sendo indevida a extensão indiscriminada dessa compreensão para outros tributos, tais como o IRPJ e CSLL.
A fim de corroborar a referida afirmação, basta ver que a própria Suprema Corte, ao julgar o Tema n. 1048/STF, concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - a qual inclusive é uma contribuição social, mas de caráter substitutivo, que também utiliza a receita como base de cálculo.
Observe-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1048/STF, tratou a CPRB como benefício fiscal, notadamente quando passou a ser modalidade facultativa de tributação. A ratio decidendi do mencionado caso paradigma traz consigo uma relevante peculiaridade: para o STF, a facultatividade do regime impede a aplicação pura e simples da tese fixada no julgamento do Tema n. 69/STF da repercussão geral, porquanto caracterizaria a criação incabível de um terceiro gênero de tributação mais benéfico.
Salienta-se que quando do julgamento do Tema n. 1048/STF, o Ministro Marco Aurélio (então relator do recurso extraordinário) desenvolveu voto no sentido de que o alcance e a definição dos institutos de receita e faturamento extraídos do julgamento do Tema n. 69/STF deveriam se aplicar de maneira ampla. Para o eminente Ministro, "admitir a volatilidade dos institutos previstos na Lei Maior com base no regime fiscal ao qual submetido o contribuinte implica interpretar a Constituição Federal a partir da legislação comum, afastando a supremacia que lhe é própria".
Ocorre que essa linha de pensamento (que agora se confunde com a pretensão recursal analisada) foi expressamente debatida e vencida. Isto é, o próprio Supremo, ao interpretar seu precedente (Tema n. 69/STF), entendeu que esse seria inaplicável às hipóteses em que se oferecesse benefício fiscal ao contribuinte, vale dizer, não se aplicaria quando houvesse facultatividade quanto ao regime de tributação, exatamente o que acontece no caso.
Ressalte-se que, para a Contribuição ao PIS e a COFINS, a receita constitui a própria base de cálculo, enquanto para o IRPJ e a CSLL, apurados na sistemática do lucro presumido, representa apenas parâmetro de tributação, sendo essa outra distinção relevante. Com efeito, o Tema n. 69/STF apresenta-se aplicável tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS. Não há que falar na adoção de "tese filhote" para albergar outros tributos, disciplinados por normas jurídicas próprias. Por conseguinte, não há inconstitucionalidade na circunstância de o ICMS integrar a receita como base imponível das demais exações.
Nesse ponto, é importante ressaltar que, diante da orientação dessa última tese (Tema n. 69/STF), a Primeira Turma, à unanimidade, ao julgar o REsp n. 1.599.065/DF (Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 9/11/2021, DJe 2/12/2021), excluiu da base de cálculo das referidas contribuições os valores auferidos por empresas prestadoras de serviço de telefonia pelo uso de suas estruturas para interconexão e roaming, porquanto não se incorporam ao patrimônio do contribuinte, por força da legislação de regência.
Cabe rememorar, porém, que, naquela hipótese, a discussão se deu justamente no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS, ou seja, os mesmos tributos tratados no Tema n. 69/STF da repercussão geral e à luz dos atos normativos de natureza infraconstitucional que tratam do serviço de roaming e interconexão. Daí a observância daquela ratio decidendi, que, como visto, não pode ser reproduzida no presente caso. Em outras palavras, extrai-se dos julgados acima referidos que o próprio Supremo Tribunal Federal compreende que não foi excluído, em caráter definitivo e automático, o ICMS do conceito constitucional de receita para todos os fins tributários.
REsp 1.857.098-MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/5/2022 (Tema IAC 13).
DIREITO ADMINISTRATIVO
Incidente de Assunção de Competência - Tema IAC 13 - Direito de acesso à informação ambiental. Direito de acesso à informação ambiental. Princípios da máxima divulgação e favor informare. Arts. 2º da Lei n. 10.650/2003, 8º da Lei n. 12.527/2011 (LAI) e 9º da Lei n. 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA). Princípio 10 da Declaração do Rio, Acordo de Escazú e Convenção de Aarhus. Convergência normativa. Transparência ambiental ativa, passiva e reativa. Dever estatal de informar e produzir informação ambiental. Presunção relativa em favor da publicidade. Discricionariedade administrativa. Inexistência. Necessidade de motivação adequada da opacidade. Controle judicial do ato administrativo. Cabimento. Área de proteção ambiental (APA). Plano de manejo. Produção e publicação periódica de relatórios de execução. Portal de internet. Averbação no registro de imóveis rurais. Previsão legal.
Tese A) O direito de acesso à informação no Direito Ambiental brasileiro compreende: i) o dever de publicação, na internet, dos documentos ambientais detidos pela Administração não sujeitos a sigilo (transparência ativa); ii) o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas (transparência passiva); e iii) direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a Administração (transparência reativa);
Tese B) Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo ônus da Administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial, nos seguintes termos: i) na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar; ii) na transparência passiva, de enquadramento da informação nas razões legais e taxativas de sigilo; e iii) na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente;
Tese C) O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais;
Tese D) O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais.
Na origem, o Ministério Público Estadual identificou a ineficácia dos projetos constantes no Plano de Manejo de APA. Aduziu-se que nenhum dos 20 (vinte) programas do Plano de Manejo foi implementado, nem mesmo contemplado orçamentariamente, e requereu-se providências associadas.
Os pedidos foram acolhidos, à exceção da publicação periódica de relatórios de execução do Plano de Manejo e de averbação da APA nos imóveis rurais, ao fundamento de ausência de previsão legal.
A pretensão veio alicerçada na violação do direito de acesso à informação ambiental no âmbito de APA. Fundou-se nas Leis n. 12.527/2011 e 10.650/2003. Tais leis positivam o que se convencionou denominar de direito de acesso à informação ambiental. A imbricação entre as normas não é fortuita, sendo a norma brasileira inaugural da transparência em matéria ambiental (Política Nacional de Meio Ambiente - Lei n. 6.938/1981) claramente inspirada nas sunshine laws.
O acesso a informações públicas é um direito simultaneamente autônomo e funcional. Além de a prestação de contas e controle do governo pela sociedade ser princípio básico das democracias, o direito de acesso viabiliza a participação adequada da população na tomada de decisões coletivas e participação na coisa pública.
No âmbito ambiental, o direito de acesso à informação encontra-se reconhecido no direito internacional, em diversas normas que visam dar cumprimento ao Princípio 10 da Declaração do Rio. Na América Latina e Caribe, o Acordo de Escazú dispõe sobre a matéria. Embora não internalizado, pendente de ratificação, o direito nacional reflete princípios semelhantes por todo o ordenamento, desde o nível constitucional, que se espalham em variadas leis federais.
O direito de acesso à informação configura-se em dupla vertente: direito do particular de ter acesso a informações públicas requeridas (transparência passiva) e dever estatal de dar publicidade às informações públicas que detém (transparência ativa).
No regime de transparência brasileiro, vige o Princípio da Máxima Divulgação: a publicidade é regra, e o sigilo, exceção, inadmitidos subterfúgios, anacronismos jurídicos ou meias-medidas. É dever do Estado demonstrar razões consistentes para negar a publicidade ativa e ainda mais fortes para rejeitar o atendimento ao dever de transparência passiva.
A opacidade administrativa não pode ser tolerada como simulacro de transparência passiva. O dever estatal de transparência ativa antecede o direito do cidadão em reclamar a transparência passiva. É o desatendimento da publicação espontânea e geral de informações públicas que abre ao cidadão o direito de reclamar, individualmente, acesso às informações públicas não publicadas pelo Estado.
Eis a ordem natural das coisas, em matéria de transparência em uma democracia: i) a Administração atende o dever de publicidade e veicula de forma geral e ativa as informações públicas, na internet; ii) desatendido o dever de transparência ativa, mediante provocação de qualquer pessoa, a Administração presta a informação requerida, preferencialmente via internet; iii) descumprido o dever de transparência passiva, aciona-se, em último caso, a Justiça. Não é a existência dos passos subsequentes, porém, que apaga os deveres antecedentes. Ou seja: não é porque se pode requerer acesso à informação que a Administração está desobrigada, desde o início, de publicá-la, ativamente e independentemente de requerimento anterior.
Em matéria de transparência, no Brasil, a autointerpretação administrativa em favor de si mesma, a pretexto de discricionariedade, é vedada, devendo a negativa ser sempre fundamentada em decisão pública, sujeita a revisão administrativa e a controle judicial. Conforme o princípio favor informare, a discricionariedade administrativa diante do sigilo e da opacidade não se presume e dificilmente se sustenta. Compete ao Estado demonstrar a incidência de razões concretas e específicas para restrição do direito de acesso a informações públicas, sendo presumida a incidência das obrigações de transparência.
Impõe-se ao Estado, em regra, a publicação (especialmente na internet) de informações públicas, não se tratando de ato discricionário. Para não publicar a informação pública na internet, o Administrador deve demonstrar motivações concretas, de caráter público e republicano, aptas a afastar a regra da transparência ativa. Descumprida a regra, viabiliza-se ao cidadão o requerimento de acesso. Para negar-se a atender a transparência passiva, os motivos do Administrador devem ser ainda mais graves, conforme normas de sigilo taxativamente previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI).
No âmbito da transparência ambiental, o ordenamento brasileiro intensifica ainda mais o dever do Estado, impondo inclusive a produção da informação ambiental requerida (transparência reativa), e não apenas a divulgação daquelas de que dispõem. É certo que a previsão deve ser interpretada moderadamente, sendo de se ponderar os pedidos de produção da informação não disponível com suas características e outros aspectos da gestão pública. A demanda pela produção de informação ambiental absurda, de natureza pseudocientífica ou anticientífica, com custos exorbitantes ou desproporcionais aos benefícios antevistos pode ser rejeitada pela Administração mediante decisão convincente, clara e expressamente fundamentada, sujeita tal decisão ao crivo judicial.
No caso concreto, não se vislumbra razoável a inexistência de relatórios de execução do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Lajeado. Se não existem, devem ser produzidos, à luz da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981, art. 9º, XI). Produzidos, devem ser ativamente publicados pela municipalidade, em seu portal de internet (LAI - Lei n. 12.527/2011, art. 8º, § 2º). A sociedade (e não só o MP) tem direito de acesso não apenas ao plano-documento, mas também ao planejamento-processo de manejo da área.
Quanto à averbação da APA no registro dos imóveis rurais, o ordenamento ambiental e registral brasileiro aponta para sua adequação. As averbações facultativas não são taxativamente previstas, e o Ministério Público é expressamente legitimado para requisitar, inclusive diretamente ao oficial, apontamentos vinculados a sua função institucional, entre as quais, inequivocamente, está a tutela ambiental.
Assim, sendo o registro a "certidão narrativa" do imóvel, nada veda que, por requisição do MP, se efetue a averbação de fatos relevantes da vida do bem, com o intuito de ampla publicidade e, na espécie, efetivação e garantia dos direitos ambientais vinculados ao uso adequado de recursos hídricos para consumo humano.
A anterior publicidade dos atos administrativos em nada impede o registro, ainda que este também atenda a esse mesmo princípio. São vários os atos públicos, inclusive judiciais, que são de averbação ou registro compulsórios (p. ex. sentenças, desapropriações e tombamentos). Tanto mais se diga da medida facultativa, requerida expressamente pelo Ministério Público no âmbito da sua função institucional de defesa do meio ambiente.
A hipótese presente não se confunde com o regime das áreas de preservação permanente (APP), com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou com o Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), regidos por normas próprias e específicas.
Em suma, o ainda incipiente Estado de Direito Ambiental, também dito Estado Ecológico de Direito ou Estado Socioambiental de Direito (Environmental Rule of Law), brasileiro contempla dentre as medidas de transparência ambiental, entre outras: i) o dever estatal de produzir relatórios de execução de projetos ambientais, como os Planos de Manejo de APAs; ii) o dever estatal de publicar tais relatórios na internet, com periodicidade adequada; e iii) a averbação das APAs nos registros de imóveis rurais, mediante requisição direta do Ministério Público aos ofícios.
PUIL 825-RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24/5/2023, DJe 5/6/2023.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
À falta de baliza normativo-conceitual específica, tem-se que a locução "jurisprudência dominante", para fins do manejo de pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL), deve abranger não apenas as hipóteses previstas no art. 927, III, do CPC, mas também os acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência e nos próprios pedidos de uniformização de lei federal por ele decididos.
O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal - PUIL é um meio de impugnação de decisão judicial muito peculiar e próprio do microssistema dos juizados especiais, cujo juízo de admissibilidade se dá por critérios assemelhados aos que esta Corte emprega para a admissão do recurso especial.
Nos termos do art. 14 da Lei n. 10.259/2001, o pedido dirigido a esta Corte Superior somente será cabível "quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ".
À falta de baliza normativa específica, revela-se viável que o conceito de jurisprudência dominante, para efeito do manejo do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, busque parâmetros na dicção do art. 927 do CPC, adotando-se, como paradigmas utilizáveis pela parte requerente, decisões proferidas pelo STJ, originariamente, no âmbito de IRDRs, de IACs e de seus recursos especiais repetitivos.
Nessa linha de raciocínio, já decidiu esta Primeira Seção: "... 3. O conceito de "jurisprudência dominante", para efeitos do manejo do pedido de interpretação de lei federal, deriva da dicção do art. 927 do CPC e pressupõe, como paradigmas, decisões proferidas em IRDR instaurado nas ações originárias do STJ, do IAC, de recursos especiais repetitivos (inciso III); de súmulas do STJ (inciso IV); ou, ainda, de julgamentos em plenário ou por órgão especial (inciso V). 4. Não se pode ter por "jurisprudência dominante" a compreensão encontrada em um único julgado de órgão fracionário, não consolidada em reiteradas decisões posteriores". (AgInt no PUIL n. 1.799/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 7/10/2022).
CC 146.213-DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acordão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por maioria, julgado em 13/6/2018, DJe 28/8/2018.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Conflito de competência de ação popular questionando a desocupação da orla do Lago Paranoá. Área de Preservação Permanente. Desocupação da orla do Lago Paranoá. Ação popular questionando atos da AGEFIS. Imóveis da União. Competência do juízo federal na parte que diz respeito aos imóveis da União. Competência do Juízo distrital para julgar as demais questões.
Compete à Justiça Federal processar e julgar a ação popular de desocupação da Área de Preservação Permanente do Lago Paranoá, no Distrito Federal, apenas no que se refere aos imóveis da União.
Trata-se de conflito de competência entre Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir as decisões envolvendo a execução da sentença passada em julgado de ação civil pública, bem como a forma de atuação da AGEFIS (Agência de Fiscalização do DF) nas operações de desobstrução das invasões de áreas públicas lindeiras à orla do Lago Paranoá.
Tem-se que, em 2012, transitou em julgado sentença de parcial procedência dos pedidos proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face do Distrito Federal, objetivando a desobstrução da Área de Preservação Permanente do Lago Paranoá. Posteriormente, em 2015, perante a 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi distribuída outra ação popular em face do Distrito Federal e da União, objetivando a abstenção dos réus de realização de procedimento de conciliação ou mediação em matéria ambiental que interfira no Lago Paranoá, sem o indispensável controle judicial (bem assim a anulação de eventuais acordos celebrados); e, principalmente, seja o Distrito Federal impedido de realizar qualquer intervenção ou desocupação da área sem atendimento ao novo Código Florestal, bem assim seja obrigado a recuperar a área degradada em decorrência das ações de sua agência de fiscalização (AGEFIS).
O autor da ação popular, além de questionar a atuação da AGEFIS na desocupação da APP (Área de Preservação Permanente) do Lago Paranoá - matéria objeto da ação civil pública transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença -, defende a competência da Justiça Federal em razão da existência de imóveis da União na orla.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença é da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Por outro lado, nos termos dos incisos I e II do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União figura como parte, bem assim as que envolvam Estado estrangeiro e pessoa domiciliada ou residente no País.
Ocorre que não se mostra razoável (e nem proporcional) paralisar a desocupação da inteireza da APP do Paranoá enquanto a Justiça Federal processa e julga a ação popular por causa da presença da União, se apenas uma pequena parte dessa APP teria relação com os imóveis que deram causa à indicação desse ente federativo como parte demandada.
Também não se mostra apropriado remeter a ação popular para o juízo do Distrito Federal, uma vez que esse não detém competência para proferir decisão em demanda na qual figura a União como parte, conforme a inteligência do art. 109 da Constituição Federal.
Sendo assim, deve ocorrer a cisão da ação popular para declarar a competência do Juízo Federal para processar e julgar tão somente no que importa aos imóveis da União; e declarar a competência do Juízo distrital para as demais questões da ação popular, que não envolvam os aludidos imóveis.
EREsp 1.517.492-PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, por maioria, julgado em 8/11/2017, DJe 1º/2/2018.
DIREITO TRIBUTÁRIO
Crédito presumido de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal. Inclusão nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Inviabilidade. Interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro. Ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.
Crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL (AgInt no REsp n. 1.603.082/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016). Já o segundo, considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
Inicialmente, cabe lembrar que a Constituição da República hospeda vários dispositivos dedicados a autorizar certos níveis de ingerência estatal na atividade produtiva com vista a reduzir desigualdades regionais, alavancar o desenvolvimento social e econômico do país, inclusive mediante desoneração ou diminuição da carga tributária. A outorga de crédito presumido de ICMS insere-se em contexto de envergadura constitucional, instituída por legislação local específica do ente federativo tributante. Revela-se importante anotar que ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da Segunda Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou e tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais. Remarque-se que, no Brasil, o veículo de atribuição de competências, inclusive tributárias, é a Constituição da República.
Como corolário do fracionamento dessas competências, o art. 155, XII, g, da CF/88, atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar. A concessão de incentivo por Estado-membro, observados os requisitos legais, configura, portanto, instrumento legítimo de política fiscal para materialização dessa autonomia consagrada pelo modelo federativo. Nesse caminho, a tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.
Dessarte, é razoável que a exegese em torno do exercício de competência tributária federal, no contexto de estímulo fiscal legitimamente concedido por Estado-membro, tenha por vetor principal um juízo de ponderação dos valores federativos envolvidos. É induvidoso, ademais, o caráter extrafiscal conferido pelo legislador estadual à desoneração, consistindo a medida em instrumento tributário para o atingimento de finalidade não arrecadatória, mas, sim, incentivadora de comportamento, com vista à realização de valores constitucionalmente contemplados, conforme apontado. Outrossim, o abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro, a seu turno, acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados.
Cumpre destacar, ademais, em sintonia com as diretrizes constitucionais apontadas, o fato de a própria União ter reconhecido a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços, nos termos da Lei n. 11.945/2009. Por fim, cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, por maioria, que o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos.
Saiba mais:
REsp 973.827-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, por maioria, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012 (Temas 246 e 247).
DIREITO BANCÁRIO
Recursos Repetitivos - Temas 246 e 247 - Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros (anatocismo). Juros compostos. Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura). Medida provisória n. 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170/2001, desde que expressamente pactuada; e
2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
O art. 15-A da Lei n. 4.380/1964, com a redação dada pela Lei n. 11.977/2009, dispõe ser "permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH". Nesse sentido, registra-se que desde 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, admite-se, nos contratos bancários em geral, a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (a mensal, inclusive).
A exceção se concentra nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, em relação aos quais até a edição da Lei n. 11.977/2009 somente era permitida a capitalização anual, passando, a partir de então, a ser admitida apenas pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal, excluída, portanto, a legalidade de pactuação em intervalo diário ou contínuo.
Quanto à capitalização de juros, os arts. 1º e 4º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) dispõem duas restrições à liberdade pactuar de taxa de juros: no art. 1º limitou o percentual ao máximo de 12% ao ano (dobro da taxa legal prevista no Código de 1916); e, no art. 4º, proibiu a contagem de "juros dos juros", salvo a "acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano".
O limite previsto no art. 1º ainda está em vigor, não se aplicando, todavia, às instituições financeiras, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n. 596 do STF, segundo a qual "as disposições do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integrem o Sistema Financeiro Nacional."
O referido diploma legal veda a contagem de juros dos juros; mas estabelece que a proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. A pacífica jurisprudência do STJ compreende que a ressalva permite a capitalização anual como regra aplicável aos contratos de mútuo em geral. Assim, não é proibido contar juros de juros em intervalo anual; os juros vencidos e não pagos podem ser incorporados ao capital uma vez por ano para sobre eles incidirem novos juros (STJ, Segunda Seção, EREsp 917.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/8/2008 e REsp 1.095.852/PR, relatora Ministra Isabel Gallotti, DJe 19/3/2012).
A segunda ordem de restrição, contida no art. 4º (proibição da "contagem de juros dos juros, salvo a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano"), é a base legal da Súmula n. 121 do STF, segundo a qual "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada". Esta restrição, até março de 2000, aplicava-se, na linha da pacífica jurisprudência, também às instituições financeiras, salvo permissão legal prevista em legislação especial, como ocorre com as cédulas de crédito rural, industrial, comercial (Súmula n. 93/STJ). A partir da entrada em vigor da MP 1.963/2000 (atual MP 2.170/2001), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros em intervalo inferior ao anual.
Desse modo, o objetivo do art. 4º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), ao restringir a capitalização, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. Nada dispõe o art. 4º acerca do processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte (é proibido contar juros de juros) poderia fazer supor.
Com base nessas premissas, o Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4º do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer, como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto n. 22.626/1933, art. 1º) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei n. 4.595/1964).
Com efeito, se pactuados juros compostos, desde que a taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei (12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código Civil vigente, limites estes não aplicáveis às instituições financeiras) não haverá ilegalidade na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de juros embutidos nas prestações.
REsp 1.388.972-SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 8/2/2017, DJe 13/3/2017. (Tema 953).
DIREITO BANCÁRIO
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
Um dos pontos sobre os quais há controvérsia é a legalidade da capitalização mensal e anual de juros. É inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua - cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.
De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente.
Impende ressaltar que, a despeito da incidência do diploma consumerista aos contratos entabulados com instituições financeiras e a previsão na Lei n. 8.078/1990, artigo 47, de que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, o próprio Código Civil preleciona no artigo 423 que "quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".
Por estas razões, em não havendo expressa pactuação do encargo, a sua cobrança é obstada, principalmente porque pela simples leitura dos preceitos legais incidentes à espécie, notadamente o art. 4° do Decreto n. 22.626/1933 e o art. 591 do Código Civil, é irrefutável que os dispositivos aludem a que os contratantes permitem/assentem/autorizam/consentem/concordam com o cômputo anual dos juros. Entretanto, não afirmam, nem sequer remota ou implicitamente, que a cobrança do encargo possa se dar automaticamente, ou seja, não determinam que a arrecadação seja viabilizada por mera disposição legal (ope legis), pois se assim fosse teriam os julgadores o dever de, inclusive de ofício, determinar a incidência do encargo, ainda que ausente pedido das partes. ]
Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.
O legislador ordinário, atento às perspectivas atuais, procurou tratar o mútuo de forma substancialmente renovada - no Código Civil de 1916 o contrato de empréstimo era, em regra, gratuito, sendo a sua onerosidade excepcional -, hoje, os juros presumem-se devidos se o mútuo tiver destinação e finalidade econômica, podendo referir-se tanto a suprimento de dinheiro como de coisas fungíveis. Não ousou o legislador proibir que as partes convencionassem a não incidência de juros se assim expressamente acordassem.
Ora, se a norma não obrigou/determinou, mas apenas presumiu (salvo estipulação em contrário) a incidência de juros, inviável estender essa assertiva para a periodicidade deste encargo. Certamente, seria um contrassenso admitir que as partes expressamente ajustassem a não incidência de juros (contrato gratuito) mas a lei determinasse/impusesse a cobrança da capitalização de juros, ainda que na periodicidade anual.
Isto porque, o direito de livre contratar é expressão maior do ideário burguês pós-revolucionário e constitui um princípio vinculado à noção de liberdade e igualdade presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem. À pessoa humana, enquanto ser dotado de personalidade e como cidadão livre, é dado pactuar nas condições que julgar adequadas, contratando como, com quem e o que desejar, inclusive dispondo sobre cláusulas, firmando o conteúdo do contrato e criando, em dadas vezes, novas modalidades contratuais (contratos atípicos).
Além do princípio da autonomia da vontade, a boa-fé contratual, vinculada ao dever de informar - principalmente nos contratos bancários sobre os quais é inegável a incidência do Código de Defesa do Consumidor (súmula n. 297/STJ) -, constitui um dos pilares do contrato, verdadeiro elemento norteador do negócio jurídico. Nesse sentido, o contrato deve retratar uma situação de coordenação, jamais uma relação de subordinação entre as partes, mormente quando o ordenamento jurídico normativo não impõe a contratação de juros sobre juros, tampouco categoricamente afirma posição imperativa quanto a sua contratação.
REsp 1.818.564-DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 9/6/2021, DJe 3/8/2021 (Tema 1025).
DIREITO CIVIL
É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.
Tem-se, inicialmente, que a possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo.
A propósito da questão da regularização fundiária, a doutrina esclarece que ela compreende três dimensões: (a) a dimensão urbanística, relacionada aos investimentos necessários para melhoria das condições de vida da população; (b) a dimensão jurídica, que diz respeito aos instrumentos que possibilitam a aquisição da propriedade nas áreas privadas e o reconhecimento da posse nas áreas públicas; e (c) a dimensão registrária, com o lançamento nas respectivas matrículas da aquisição destes direitos, a fim de atribuir eficácia para todos os efeitos da vida civil.
Não há, portanto, como negar o direito à usucapião sob o pretexto de que o imóvel está inserido em loteamento irregular, porque o direito de propriedade declarado pela sentença (dimensão jurídica) não se confunde com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística).
O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização.
No mesmo sentido, o Pleno do STF, ao julgar o RE 422.349/RS, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a tese de que preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote).
Admitindo-se que aquele não era o único imóvel da região com metragem inferior ao módulo mínimo legal, parece razoável sustentar que o STF, ao fim e ao cabo, reconheceu a possibilidade de usucapião de glebas inseridas em loteamentos não regularizados.
Nesse contexto, é preciso ter em mente que Poder Público não faz favor nenhum quando promove a regularização de áreas ocupadas irregularmente. Muito pelo contrário, limita-se a desempenhar uma obrigação que lhe foi expressamente confiada pela CF. Admitindo-se que a regularização fundiária concorre para a segurança, saúde e bem estar da população e, bem assim, que esses são deveres essenciais do Estado, nada mais lógico do que concluir que a Administração Pública tem o dever de promover a regularização fundiária.
Não parece acertado assumir como linha de princípio que as ocupações irregulares do solo atentem, todas elas, contra o interesse público. Muito ao revés, o que atenta contra o interesse público é a inércia do Estado em promover e disciplinar a ocupação do solo.
No caso, essa omissão estatal é mais do que flagrante. A ocupação da área está sedimentada há décadas e contou com a anuência implícita do Poder Público, que fingiu não ter visto nada, tolerou durante todos esses anos e ainda providenciou a instalação de vários serviços e equipamentos públicos, como pavimentação de ruas, iluminação pública, linhas de ônibus, praça pública, posto do DETRAN etc. Não por outro motivo, a região é conhecida como Setor Tradicional de Planaltina, o que bem denota a idade do parcelamento do solo.
REsp 1.559.264-RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, por maioria, julgado em 8/2/2017, DJe 15/2/2017.
DIREITO AUTORAL
Cobrança de direitos autorais decorrentes de execução musical via internet de programação de rádio nas modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia streaming). Internet. Disponibilização de obras musicais. Tecnologia streaming. Simulcasting e webcasting. Execução pública. Configuração. Cobrança de direitos autorais. ECAD. Possibilidade. Simulcasting. Meio autônomo de utilização de obras intelectuais. Cobrança de direitos autorais. Novo fato gerador.
A transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da tecnologia streaming (webcasting e simulcasting) demanda autorização prévia e expressa pelo titular dos direitos de autor e caracteriza fato gerador de cobrança pelo ECAD relativa à exploração econômica desses direitos.
Cinge-se a controvérsia a saber: (i) se é devida a cobrança de direitos autorais decorrentes de execução musical via internet de programação de rádio nas modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia streaming ); (ii) se tais transmissões configuram execução pública de obras musicais apta a gerar pagamento ao ECAD e (iii) se a transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da tecnologia streaming constitui meio autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais.
Para tanto, inicialmente, deve-se analisar se o uso de obras musicais e fonogramas por meio da tecnologia streaming é alcançado pelo conceito de execução pública, à luz da Lei n. 9.610/1998. Assim, a partir das definições trazidas no art. 68, §§ 2º e 3º da referida norma, conclui-se que a transmissão digital via streaming é uma forma de execução pública, pois, nos termos da lei, considera-se execução pública a utilização de obra literomusicais, em locais de frequência coletiva (internet), transmitidas por qualquer modalidade (ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético - art. 5º, inciso II, da Lei n. 9.610/1998), o que, indubitavelmente, inclui a internet.
Nessa linha de raciocínio, o fato de a obra intelectual estar à disposição, ao alcance do público, no ambiente coletivo da internet, por si só, torna a execução musical pública, sendo relevante, para o legislador, tão somente a utilização das obras por uma coletividade frequentadora do universo digital, que poderá quanto quiser acessar o acervo ali disponibilizado. Isso porque é a própria lei que define local de frequência coletiva como o ambiente em que a obra literomusical é transmitida, no qual ela é propagada; na hipótese, a internet é onde a criação musical é difundida.
Logo, a configuração da execução pública não se dá em decorrência do ato praticado pelo indivíduo que acessa o site, mas, sim, pelo ato do provedor que o mantém, disponibilizando a todos, isto é, ao público em geral, o acesso ao conteúdo musical.
Ressalte-se, ainda, que o streaming interativo (art. 29, VII, da Lei n. 9.610/1998), modalidade em que a seleção da obra é realizada pelo usuário, está ligado ao denominado "direito de colocar à disposição ao público", situando-se no âmbito do direito de comunicação ao público, e não no campo do direito de distribuição, conclusão que está em harmonia com as diretrizes adotadas pela maioria dos países da União Europeia.
Assim, quanto à questão, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o reconhecimento de um amplo direito de comunicação ao público, no qual a simples disponibilização da obra já qualifica o seu uso como execução pública, abrangendo, portanto, a transmissão digital interativa (art. 29, VII, da Lei n. 9.610/1998) ou qualquer outra forma de transmissão imaterial. Por conseguinte, as transmissões via streaming, tanto na modalidade webcasting como na modalidade simulcasting, são tidas como execução pública de conteúdo, legitimando a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais pelo ECAD.
No que tange à compreensão de que o simulcasting como meio autônomo de uso de criação intelectual enseja nova cobrança do ECAD, destaque-se que a solução está prevista na própria Lei n. 9.610/1998, em seu art. 31, que estabelece que para cada utilização da obra literária, artística, científica ou de fonograma, uma nova autorização deverá ser concedida pelos titulares dos direitos.
Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, fica evidenciado que toda nova forma de utilização de obras intelectuais - na hipótese, o simulcasting, transmissão simultânea via internet - gera novo licenciamento e, consequentemente, novo pagamento de direitos autorais.
Cabe salientar que o critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito autoral está relacionado com a modalidade de utilização e não com o conteúdo em si considerado. Assim, no caso do simulcasting, a despeito de o conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tornando exigível novo consentimento para utilização, caracterizando, desse modo, novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD.
Nesses termos, conclui-se que: i) é devida a cobrança de direitos autorais decorrentes de execução musical via internet de programação de rádio nas modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia streaming), pois enquadram-se como atos de execução pública de obras musicais aptos a ensejar pagamento ao ECAD, e ii) a transmissão de músicas mediante o emprego da tecnologia streaming na modalidade simulcasting constitui meio autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD.
Lei n. 9.610/1998, arts. 5º, inciso II, 29, VII, 31 e 68, §§ 2º e 3º
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 22/6/2022, DJe 30/6/2022.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Legitimidade extraordinária de acionistas minoritários para promover procedimentos arbitrais destinados à responsabilização civil dos controladores. Responsabilização civil de controladores. Acionistas minoritários. Legitimidade extraordinária (ação social ut singili). Inércia da companhia. Configuração. Imprescindibilidade.
Os acionistas minoritários não têm legitimidade extraordinária para promover procedimentos arbitrais destinados à responsabilização civil dos controladores, com base no art. 246 da Lei n. 6.404/1976, (ação social ut singili) enquanto não caracterizada a inércia da companhia, o que se verifica quando, convocada assembleia geral para deliberar sobre a responsabilidade destes, há deliberação autorizativa e não são promovidas as medidas cabíveis dentro dos três meses subsequentes ou quando há deliberação negativa.
A ação de reparação de danos causados ao patrimônio social por atos dos administradores, assim como dos controladores, deverá ser proposta, em princípio, pela companhia diretamente lesada, que é, naturalmente, a titular do direito material em questão. A chamada ação social de responsabilidade civil dos administradores e/ou dos controladores, deve ser promovida, prioritariamente, pela própria companhia lesada (ação social ut universi). Em caso de inércia da companhia (a ser bem especificada em cada caso), a lei confere, subsidiariamente, aos acionistas, na forma ali discriminada, legitimidade extraordinária para promover a ação social em comento (ação social de responsabilidade ut singuli).
A deliberação da companhia para promover ação social de responsabilidade do administrador e/ou do controlador dá-se, indiscutivelmente, por meio da realização de assembleia geral. A caracterização da inércia da companhia depende, pois, da deliberação autorizativa e, passados os três meses subsequentes, a titular do direito não ter promovido a medida judicial/arbitral cabível; ou, mesmo da deliberação negativa, termos a partir dos quais é possível cogitar na abertura da via da ação social ut singuli.
É certo que a Lei n. 6.404/1976 confere aos acionistas minoritários, na forma ali discriminada, entre outras garantias destinadas justamente a fiscalizar a gestão de negócios e o controle exercido, o direito de promover a convocação da assembleia geral, sobretudo para os casos que guardam manifesta gravidade. Caso os controladores venham a interferir na própria deliberação assemblear, a lei põe à disposição dos acionistas minoritários, na forma da lei, a possibilidade de ajuizar ação social (subsidiariamente).
Em sendo a deliberação autorizativa, caso a companhia não promova a ação social de responsabilidade de administradores e/ou de controladores nos três meses subsequentes, qualquer acionista poderá promover a ação social ut singili (§ 3º do art. 159).
Se a assembleia deliberar por não promover a ação social, seja de responsabilidade de administrador, seja de responsabilidade de controlador, acionistas que representem pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social poderão promover a ação social ut singili, com fulcro no § 4º do art. 159 e no art. 246 da LSA.
Tem-se, todavia, que, nessa última hipótese, no caso de a assembleia deliberar por não promover ação social, em se tratando de responsabilidade do controlador, seria dado também a qualquer acionista, com base no § 1º, a, do art. 246, promover a ação social ut singili, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado devidos no caso de vir a ação ser julgada improcedente.
Em todo e qualquer caso, portanto, a ação social de responsabilidade de administrador e/ou de controlador promovida por acionista minoritário (ut singili) em legitimação extraordinária, por ser subsidiária, depende, necessariamente, da inércia da companhia, titular do direito lesado, que possui legitimidade ordinária e prioritária no ajuizamento de ação social.
Não se pode conceber que a companhia, titular do direito lesado, fique tolhida de prosseguir com ação social de responsabilidade dos administradores e dos controladores, promovida tempestivamente e em conformidade com autorização assemblear (nos moldes prescritos na lei de regência, mediante atuação determinante de acionista detentor de mais de 5% do capital social) simplesmente porque determinados acionistas minoritários, em antecipação a tal deliberação e, por isso, sem legitimidade para tanto, precipitaram-se em promover a ação social de responsabilidade de controladores, possivelmente objetivando receber o prêmio de cinco por cento, calculado sobre o valor da indenização, a pretexto de defender os interesses da companhia, em legitimidade extraordinária.
AgInt no AgInt no RMS 32.325-CE, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 6/2/2024, DJe 14/2/2024.
DIREITO ADMINISTRATIVO
O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra fixação de base de cálculo tida por ilegal - em ato de deferimento de aposentadoria de servidor público - inicia-se com a ciência desse ato, sem prejuízo de cobrança de parcelas pela via ordinária quando não indeferido o direito de fundo.
O mandado de segurança foi impetrado, na origem, objetivando corrigir suposta ilegalidade na definição da base de cálculo de vantagem, que integraria os proventos, por ocasião do processo de aposentadoria de servidor público. O que se investiga é o prazo decadencial da impetração, que, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, começa a fluir da ciência do ato coator.
Inicialmente, observa-se que os proventos de aposentadoria são pagos, com efeito, mensalmente, de modo que a pretensão de cobrança de parcelas de proventos, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, está sujeita, inclusive, à prescrição (Súmula 85/STJ), tudo a espelhar típica relação de trato sucessivo.
Ocorre, contudo, que os proventos não são fixados mês a mês. Eles são (e foram) fixados no ato de aposentadoria, praticado uma única vez (conquanto de efeitos que se protraem no tempo). Esse exercício de subsunção confere efetividade (ou amolda-se) à consolidada jurisprudência, em que a extinção da segurança por decadência, para a impetração, não obsta a dedução da pretensão pela via ordinária. Nesse sentido, confiram-se: RMS n. 31.113/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 1/2/2012 e RMS n. 32.126/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 16/9/2010.
Nesse sentido, na altura desses precedentes, prestigia-se, porque razoável, a interpretação de que o prazo decadencial, para impetrar mandado de segurança contra fixação de base de cálculo tida por ilegal em ato de deferimento de aposentadoria, inicia-se com a ciência desse ato, sem prejuízo de cobrança de parcelas pela via ordinária - desde que não indeferido o direito de fundo -, pretensão sujeita à prescrição (Súmula 85/STJ).
Não se ignora, ainda, a orientação do Supremo Tribunal Federal, seguida por esta Corte, sobre a natureza do ato de concessão de aposentadoria: "'ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas [...]'".
Sendo assim, se o ato apontado como coator é a alegada ilegalidade na definição da base de cálculo ou se este ato teve efeitos concretos e imediatos, os impetrantes passaram a receber proventos, calculados levando em conta a aludida base de cálculo, imediatamente após a assinatura do ato de aposentadoria, desinfluente a natureza complexa do ato de concessão de aposentadoria.
REsp 1.877.192-PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 9/11/2023, DJe 20/11/2023.
DIREITO AMBIENTAL
A antropização consolidada de área degradada não autoriza a permanência de construções irregulares, erigidas à revelia do poder público, inexistindo direito adquirido de degradar o meio ambiente.
No caso, o Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento de imposição de medida de demolição de posto de gasolina, que seria medida necessária a permitir a regeneração da área de preservação ambiental atingida. Lastreou o acórdão recorrido no fundamento consistente na existência de prévias licenças ambientais expedidas. Reconheceu, ainda, contraditoriamente, que houve a instalação do empreendimento em área de preservação permanente, porém, acabou por entender que, como a área já estava degradada, deveriam ser mantidas as construções.
A consolidação da intervenção na área de preservação permanente - antropização - não justifica, contudo, que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente. O pressuposto básico desconsiderado pelo Tribunal de origem é de que, conforme a jurisprudência deste STJ, não existe direito adquirido a poluir.
Mostra-se irrelevante o fato de que a intervenção nas áreas de preservação permanente tenha sido promovida em um momento anterior e/ou por outra pessoa jurídica. É que "a antropização consolidada da área não autoriza a permanência de construções irregulares, erigidas à revelia do poder público, com danos ambientais inequivocamente afirmado na origem. Inexiste direito adquirido de degradar o meio ambiente." (AgInt no REsp n. 1.911.922/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 7/10/2021).
A obrigação de recuperar o meio ambiente é de natureza propter rem, nos termos do art. 2º, §2º, do atual Código Florestal e do enunciado da Súmula n. 623 do STJ, a qual dispõe que "as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
No caso em discussão, ficou comprovado que o empreendimento resulta intervenção em Áreas de Preservação Permanente - APPs, consistentes em margem de curso d'água, mata atlântica e topo de morro; e as licenças ambientais autorizadoras do empreendimento não mencionaram essas APPs. É patente, portanto, a ofensa do art. 10 da Lei n. 6.938/1981, que dispõe que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
Dessa forma, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a violação das regras protetivas do meio ambiente atrai a responsabilidade objetiva, informada pela teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981, com presunção do prejuízo causado ao meio ambiente (dano in re ipsa), ensejando, assim, o dever de indenizar.
REsp 1.728.334-RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 5/6/2018, DJe 5/12/2018.
DIREITO AMBIENTAL
É incompatível com os princípios de regência do Estado de Direito Ambiental vigente no Brasil a possibilidade de licença ou autorização tácita, automática ou por protocolo, derivada de omissão da Administração Pública em deferir ou não o pleito do empreendedor.
Nos termos dos arts. 9°, IV, e 10 da Lei n. 6.938/1981, exigem licenciamento ambiental - cujo resultado formal é a expedição, ou não, de autorização ou licença - tanto atividade como construção, instalação, funcionamento e ampliação de empreendimento efetiva ou potencialmente degradadores do meio ambiente. Assim, pratica ilícito administrativo, civil e penal quem atua sem licença ou autorização ambiental, ou desrespeita condição ou obrigação da emitida.
O dever-poder de licenciamento e o dever-poder de fiscalização não se confundem, embora ambos integrem a esfera do chamado poder de polícia ambiental (rectius, dever-poder de implementação). Nesse sentido, o entendimento do STJ de que a competência de fiscalização de atividades e empreendimentos degradadores do meio ambiente é partilhada entre União, Estados e Municípios, sobretudo quando o infrator opera sem licença ou autorização ambiental. Tal orientação jurisprudencial coaduna-se com o espírito da Lei Complementar n. 140/2011 e o arcabouço constitucional de organização e funcionamento do Poder Público no terreno ambiental.
Consoante a Lei Complementar n. 140/2011, "compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada" (art. 17). Assim, o enxugamento de competências do dispositivo em questão incide apenas e tão somente em situação de existência de regular e prévia licença ou autorização ambiental. E, ainda assim, conforme o caso, pois, primeiro, descabe a órgão ou nível da federação, ao licenciar sem competência, barrar ou obstaculizar de ricochete a competência de fiscalização legítima de outrem; e, segundo, a concentração orgânica da ação licenciadora e fiscalizadora restringe-se a infrações que decorram, de maneira direta, dos deveres e exigências da licença ou autorização antecedentemente expedida.
Dessa forma, é incompatível com os princípios de regência do Estado de Direito Ambiental vigente no Brasil a possibilidade de licença ou autorização tácita, automática ou por protocolo, derivada de omissão da Administração Pública em deferir ou não o pleito do empreendedor.
Ademais, o silêncio administrativo perante simples protocolo do pedido, gera - até manifestação expressa em sentido contrário - presunção iuris et de iure (absoluta) de não licenciamento ambiental, de modo que qualquer norma que estabeleça o contrário sofrerá de grave e incontornável anomalia constitucional, pois inverte a ordem lógica e temporal da licença, que deve ser sempre prévia, sob pena de perder por completo sua legitimidade ética, sentido prático e valor preventivo.
Em síntese, o vácuo administrativo não corresponde a deferimento, pois nada cria e nada consente ou valida. A morosidade do administrador corrige-se com os instrumentos legalmente previstos, tanto disciplinares como de improbidade administrativa, jamais punindo o inocente, ou seja, o favorecido pelo licenciamento, a coletividade presente e futura.
Acessou este produto por meio do calendário 2025 do STJ? Confira outros julgamentos importantes sobre o tema:
- REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019
- AgRg no REsp 664886/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 09/03/2012
- REsp 1846075/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020
- REsp 1820792/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 22/10/2020
- AgInt na SLS 2940/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2023, DJe 20/09/2023
- EDcl no REsp 1770967/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2022, DJe 28/06/2023
REsp 1.469.087-AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016.
DIREITO DO CONSUMIDOR
O transporte aéreo é serviço essencial e pressupõe continuidade. Considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer.
O debate diz respeito à prática no mercado de consumo de cancelamento de voos por concessionária sem comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança. As concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e (ou) plurais. Difícil imaginar, atualmente, serviço mais "essencial" do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões remotas do Brasil.
Dessa forma, a ele se aplica o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC e, como tal, deve ser prestado de modo contínuo. Além disso, o art. 39 do CDC elenca práticas abusivas de forma meramente exemplificativa, visto que admite interpretação flexível.
As práticas abusivas também são apontadas e vedadas em outros dispositivos da Lei n. 8.078/1990, assim como podem ser inferidas, conforme autoriza o art. 7º, caput, do CDC, a partir de outros diplomas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros.
Assim, o cancelamento e a interrupção de voos, sem razões de ordem técnica e de segurança intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, portanto, deve ser prevenida e punida. Também é prática abusiva não informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer. A malha aérea concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC é uma oferta que vincula a concessionária a prestar o serviço concedido nos termos dos arts. 30 e 31 do CDC. Independentemente da maior ou da menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a informar o consumidor.
REsp 1.159.242-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 24/4/2012, DJe 10/5/2012.
DIREITO CIVIL
O abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar da prole constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral compensável.
Cinge-se a controvérsia em determinar se o abandono afetivo, levado a efeito pelo pai, ao se omitir da prática de fração dos deveres inerentes à paternidade, constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral compensável.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil subjetiva tem como gênese uma ação, ou omissão, que redunda em dano ou prejuízo para terceiro, e está associada, entre outras situações, à negligência com que o indivíduo pratica determinado ato, ou mesmo deixa de fazê-lo, quando seria essa sua incumbência. É necessário, portanto, refletir sobre a existência de ação ou omissão, juridicamente relevante, para fins de configuração de possível responsabilidade civil e, ainda, sobre a existência de possíveis excludentes de culpabilidade incidentes à espécie.
Nesse sentido, é possível afirmar que tanto pela concepção, quanto pela adoção, os pais assumem obrigações jurídicas em relação à sua prole, que vão além daquelas chamadas necessarium vitae. A ideia subjacente é a de que o ser humano precisa, além do básico para a sua manutenção - alimento, abrigo e saúde -, também de outros elementos, normalmente imateriais, igualmente necessários para uma adequada formação - educação, lazer, regras de conduta, etc.
Essa percepção do cuidado como tendo valor jurídico já foi, inclusive, incorporada em nosso ordenamento jurídico, não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/1988. Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos.
Nesse contexto, a comprovação que essa imposição legal foi descumprida implica, por certo, a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão, pois na hipótese o non facere que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição legal.
Apesar das inúmeras hipóteses que poderiam justificar a ausência de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, não pode o julgador se olvidar que deve existir um núcleo mínimo de cuidados parentais com o menor que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção social.
Diante disso, cabe ao julgador ponderar - sem nunca deixar de negar efetividade à norma constitucional protetiva dos menores - as situações fáticas que tenha à disposição para seu escrutínio, sopesando, como ocorre em relação às necessidades materiais da prole, o binômio necessidade e possibilidade.
No caso concreto, não obstante o desmazelo do pai em relação a sua filha, constado desde o forçado reconhecimento da paternidade, passando pela ausência quase que completa de contato com a filha e coroado com o evidente descompasso de tratamento outorgado aos filhos posteriores, a recorrida logrou superar essas vicissitudes e crescer com razoável aprumo; contudo, mesmo assim, não se pode negar que tenha havido sofrimento, mágoa e tristeza, e que esses sentimentos ainda persistam, por ser considerada filha de segunda classe.
Dessa forma, diante desse sentimento íntimo que a recorrida levará, ad perpetuam, é perfeitamente apreensível e exsurge, inexoravelmente, das omissões do recorrente no exercício de seu dever de cuidado em relação à recorrida e também de suas ações, que privilegiaram parte de sua prole em detrimento dela, caracterizando o dano in re ipsa e traduzindo-se, assim, em causa eficiente à compensação.
REsp 1.819.075-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por maioria, julgado em 20/4/2021, DJe 27/5/2021.
DIREITO CIVIL
Existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, é indevido o uso de unidades particulares para fins de hospedagem. É possível, no entanto, que os próprios condôminos deliberem em assembleia, por maioria qualificada, permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou outra modalidade de oferta, ampliando o uso para além do estritamente residencial.
No caso, tem-se um contrato atípico de hospedagem, que expressa uma nova modalidade, singela e inovadora de hospedagem de pessoas, sem vínculo entre si, em ambientes físicos de padrão residencial e de precário fracionamento para utilização privativa, de limitado conforto, exercida sem inerente profissionalismo por proprietário ou possuidor do imóvel, sendo a atividade comumente anunciada e contratada por meio de plataformas digitais variadas.
Assim, esse contrato atípico de hospedagem configura atividade aparentemente lícita, desde que não contrarie a lei de regência do contrato de hospedagem típico, regulado pela Lei n. 11.771/2008, como autoriza a norma do art. 425 do Código Civil, ao dizer: "É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código".
No caso específico de unidade condominial, também devem ser observadas as regras dos arts. 1.332 a 1.336 do CC/2002, que, por um lado, reconhecem ao proprietário o direito de usar, fruir e dispor livremente de sua unidade e, de outro, impõem o dever de observar sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com respeito à Convenção Condominial.
Ademais, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício.
Portanto, existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, mostra-se inviável o uso das unidades particulares que, por sua natureza, implique o desvirtuamento daquela finalidade residencial (CC/2002, arts. 1.332, III, e 1.336, IV).
Com isso, fica o condômino obrigado a "dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação" (CC, art. 1.336, IV), ou seja, destinação residencial, carecendo de expressa autorização para dar destinação diversa, inclusive para a relativa à hospedagem remunerada, por via de contrato atípico.
REsp 1.149.487-RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 6/12/2018, DJe 15/2/2019.
DIREITO CIVIL
Propriedade do Palácio Guanabara. Ação de força velha (demanda possessória, processada pelo rito ordinário) proposta em 1895. Dotação para a aquisição de prédio destinado à habitação da Princesa Isabel e seu marido. Atual Palácio Guanabara. Direito de habitação. Obrigação do estado vinculada à monarquia. Instituição da República. Retorno da posse do imóvel ao Estado.
A proclamação e a institucionalização da República caracterizou o "fim da sucessão" dos privilégios dos membros da família imperial relacionados aos imóveis adquiridos a título de dote com dinheiro público, cabendo o retorno da posse do Palácio Guanabara ao Estado.
Trata-se de "ação de força velha" (demanda possessória, processada pelo rito ordinário), proposta em 1895 pelo Conde e pela Condessa d'Eu (Princesa Isabel), no qual se discute a posse do Palácio Isabel (atual Palácio Guanabara) e também a propriedade, repelindo a natureza de próprio nacional declarada no Decreto n. 447, de 18/7/1891.
O Palácio Guanabara, adquirido com recursos do Tesouro Nacional a título de dote, com fundamento nas Leis n. 166, de 29/9/1840, 1.217, de 7/7/1864, e 1.904, de 17/10/1870, destinava-se exclusivamente à habitação do Conde e da Condessa d'Eu por força de obrigação legal do Estado vinculada à monarquia e ao alto decoro do trono nacional e da família imperial.
Com a proclamação e a institucionalização da República, as circunstâncias fundamentais que justificavam a manutenção da posse do palácio deixaram de existir, tendo em vista que foram extintos os privilégios de nascimento, os foros de nobreza, as ordens honoríficas, as regalias e os títulos nobiliárquicos. Em decorrência, as obrigações do Estado previstas nas leis da época perante a família imperial foram revogadas ipso facto pela nova ordem imposta, dentre as quais a posse de que trata a ação.
A legislação editada durante a monarquia (Leis n. 166/1840 e 1.904/1870) expressamente conferiu aos imóveis adquiridos para a residência da família imperial natureza de próprio nacional, ou seja, bens de propriedade da Fazenda Nacional.
Durante o regime imperial, não se cogitava da abolição da monarquia, razão pela qual a instituição da República, extinguindo o anterior regime, qualificou nova hipótese de "fim da sucessão" dos privilégios dos membros da família imperial relacionados aos imóveis adquiridos a título de dote com dinheiro público.
O Conde e a Condessa d'Eu detinham a posse do Palácio Isabel, hoje Palácio Guanabara, tão somente para fins de direito de habitação, não possuindo o domínio sobre tal imóvel. Adquirido apenas para satisfazer a constituição de dote em favor da família imperial, a propriedade sempre foi do Estado, sendo considerado, desde a compra, próprio nacional.
Com o fim da monarquia e a extinção dos privilégios de nascimento, portanto, caracterizou-se uma nova hipótese de "fim da sucessão" dos benefícios no âmbito da família imperial, cabendo o retorno da posse do respectivo bem e de outros dotes ao Estado.
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 27/4/2010, DJe 10/8/2010.
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Adoção de irmãos biológicos menores por casal homossexual. Adoção de irmão biológicos menores por casal homossexual. Perfiliação já consolidada por uma das companheiras. Estabilidade familiar. Presença de fortes vínculos afetivos. Relatório de assistente social favorável ao pedido. Melhor interesse dos menores. Prevalência. Arts. 1º da Lei n. 12.010/2009 e 43 do ECA. Deferimento da medida.
É possível a adoção de duas crianças por pessoa que mantém união homoafetiva com companheira que antes já adotara os mesmos filhos.
É certo que o art. 1º da Lei n. 12.010/2009 e o art. 43 do ECA deixam claro que todas as crianças e adolescentes têm a garantia do direito à convivência familiar e que a adoção fundada em motivos legítimos pode ser deferida somente quando presentes reais vantagens a eles. Anote-se, então, ser imprescindível, na adoção, a prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros, até porque se discute o próprio direito de filiação, com consequências que se estendem por toda a vida.
Decorre daí que, também no campo da adoção na união homoafetiva, a qual, como realidade fenomênica, o judiciário não pode desprezar, há que se verificar qual a melhor solução a privilegiar a proteção aos direitos da criança. Frise-se inexistir aqui expressa previsão legal a permitir também a inclusão, como adotante, do nome da companheira de igual sexo nos registros de nascimento das crianças, o que já é aceito em vários países, tais como a Inglaterra, País de Gales, Países Baixos, e em algumas províncias da Espanha.
Contudo, estudos científicos de respeitadas instituições (a Academia Americana de Pediatria e as universidades de Virgínia e Valência) apontam não haver qualquer inconveniente na adoção por companheiros em união homoafetiva, pois o que realmente importa é a qualidade do vínculo e do afeto presente no meio familiar que ligam as crianças a seus cuidadores.
No caso, há consistente relatório social lavrado por assistente social favorável à adoção e conclusivo da estabilidade da família, pois é incontroverso existirem fortes vínculos afetivos entre a requerente e as crianças. De fato, verifica-se que as crianças já chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas como filhos. Existe dupla maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve qualquer prejuízo em suas criações.
Deste modo, se os estudos científicos não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer natureza para as crianças, se elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao Estado assegurar seus direitos, o deferimento da adoção é medida que se impõe.
Mediante o deferimento da adoção, ficam consolidados os direitos relativos a alimentos, sucessão, convívio com a requerente em caso de separação ou falecimento da companheira e a inclusão dos menores em convênios de saúde, no ensino básico e superior, em razão da qualificação da requerente, professora universitária.
Frise-se, por último, que, segundo estatística do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ao consultar-se o Cadastro Nacional de Adoção, poucos são os casos de perfiliação de dois irmãos biológicos, pois há preferência por adotar apenas uma criança. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se à conclusão de que, na hipótese, a adoção proporciona mais do que vantagens aos menores (art. 43 do ECA) e seu indeferimento resultaria verdadeiro prejuízo a eles.
AgRg no RHC 136.961-RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 15/6/2021, DJe 21/6/2021.
DIREITO PENAL
Execução Penal. Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC). Preso em condições degradantes. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018. Cômputo em dobro do período de privação de liberdade. Obrigação do Estado-parte. Efetividade dos direitos humanos. Interpretação mais favorável ao indivíduo. Aplicação dos direitos humanos em âmbito internacional. Princípio da fraternidade.
A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, que determina o cômputo da pena em dobro, deve ser aplicada a todo o período cumprido pelo condenado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.
Trata-se do notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos - IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos n. 115 a 130 da presente Resolução".
Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao se basear na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.
A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que teria sido cumprida pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.
Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o condenado tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.
Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.
As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano.
Aliás, essa particular forma de parametrizar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC 94.163, Relator ministro Carlos Britto, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça.
Ademais, os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que cumprida pena no IPPSC.
AgRg no AREsp 2.267.828-MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 17/10/2023, DJe 23/10/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Indenização mínima a título de danos morais na esfera penal. Condenação por danos morais. Ausência de indicação do quantum debeatur e de instrução específica. Divergência entre as Turmas Criminais do STJ. Particularidade do caso. Vítima pessoa jurídica. Necessidade de instrução específica independentemente da posição jurisprudencial adotada. Teoria geral da responsabilidade civil. Dano moral à pessoa jurídica. Efetiva comprovação de abalo à honra objetiva. Necessidade.
É inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem a indicação prévia do quantum debeatur e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, recentemente a Quinta Turma sinalizou mudança de orientação para passar a admitir a fixação de dano moral mediante simples requerimento na exordial acusatória, alinhando-se ao entendimento da Sexta Turma. Nada obstante, posteriormente, a questão foi afetada à Terceira Seção.
De todo modo, qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano ipso facto.
No caso, o Tribunal de origem justificou a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, pois não haveria "...qualquer elemento que afaste a ofensa à esfera intima do ofendido, que é própria da prática da infração penal...".
Contudo, o conceito de "esfera íntima" é inapropriado nas hipóteses em que o ofendido é pessoa jurídica. É temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas possa ter causado danos morais à pessoa jurídica.
Por outro lado, é possível que determinados crimes afetem a imagem e a honra de empresas. Seria, por exemplo, o caso de consumidores que param de frequentar determinado estabelecimento por razões de segurança. Daí porque se conclui pela imprescindibilidade da instrução específica para comprovar, caso a caso, a ocorrência de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica para os fins do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
As medidas assecuratórias, como a retenção e sequestro de bens pelo juízo criminal, devem se pautar pelo princípio da razoabilidade, podendo o Juízo rever sua decisão quando fatos supervenientes implicarem alterações no cenário processual.
Como medidas cautelares que são, as assecuratórias sujeitam-se aos requisitos e ao equilíbrio que lhes são inerentes, bem como à cláusula rebus sic stantibus, pelo que poderá o Juízo rever sua decisão quando fatos supervenientes implicarem alterações no cenário processual, que ofusquem as razões iniciais que justificaram as medidas constritivas.
O sequestro é medida assecuratória cujo deferimento acarreta a indisponibilidade de bens móveis ou imóveis adquiridos pelo agente como proveito da infração penal ou produto indireto (fructus sceleris). O arresto, de semelhante estirpe, foi predisposto a garantir a execução das penas pecuniárias a serem, eventualmente, impostas na sentença condenatória. Como medidas cautelares que são, sujeitam-se aos requisitos e ao equilíbrio que lhes são inerentes.
No caso, a manutenção da apreensão de valores efetivada no inquérito policial, após ultrapassados quase 03 (três) anos sem a instauração válida de ação penal pela prática de qualquer crime, revela manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade, situação que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário.
A razoabilidade, essencialmente, como instrumento de eficácia negativa, visa impedir que o arbítrio no exercício do poder se concretiza, limitando as atividades estatais para que não se restrinjam mais do que necessários direitos fundamentais do indivíduo.
Dessa forma, mostram-se impreteríveis o levantamento do sequestro e do arresto à mingua de mínima perspectiva de julgamento em prazo razoável da pretensão acusatória, cujo processo sequer se reiniciou.
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por maioria, julgado em 7/2/2023, DJe 2/3/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Inadmissibilidade de provas digitais sem os registros documentais sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos. Inquérito policial. Busca e apreensão. Computadores apreendidos pela polícia. Quebra da cadeia de custódia. Ausência de registros documentais sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos. Violação à confiabilidade, integridade e autenticidade da prova digital. Inadmissibilidade da prova.
São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos.
A principal finalidade da cadeia de custódia, enquanto decorrência lógica do conceito de corpo de delito (art. 158 do Código de Processo Penal), é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Busca-se assegurar que os vestígios são os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado.
No caso, a defesa sustenta que a polícia não documentou nenhum de seus procedimentos no manuseio dos computadores apreendidos na casa do investigado e, portanto, aferir sua procedência demanda apenas que se avalie a existência da documentação referente à cadeia de custódia, ou seja, se foram adotadas pela polícia cautelas suficientes para garantir a mesmidade das fontes de prova arrecadadas no inquérito, especificamente envolvendo os conteúdos dos computadores apreendidos na residência do acusado.
Em que pese a intrínseca volatilidade dos dados armazenados digitalmente, já são relativamente bem delineados os mecanismos necessários para assegurar sua integridade, tornando possível verificar se alguma informação foi alterada, suprimida ou adicionada após a coleta inicial das fontes de prova pela polícia.
Pensando especificamente na situação, a autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais) deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem dos dados: um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original.
Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única para cada arquivo - uma espécie de impressão digital ou DNA, por assim dizer, do arquivo. Esse código hash gerado da imagem teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a custódia da polícia. Mesmo alterações pontuais e mínimas no arquivo resultariam numa hash totalmente diferente, pelo que se denomina em tecnologia da informação de efeito avalanche.
Desse modo, comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da perícia (ou de sua repetição em juízo), é possível detectar se o conteúdo extraído do dispositivo foi alterado, minimamente que seja. Não havendo alteração (isto é, permanecendo íntegro o corpo de delito), as hashes serão idênticas, o que permite atestar com elevadíssimo grau de confiabilidade que a fonte de prova permaneceu intacta.
Contudo, no caso, não existe nenhum tipo de registro documental sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos, quem teve contato com eles, quando tais contatos aconteceram e qual o trajeto administrativo interno percorrido pelos aparelhos uma vez apreendidos pela polícia. Nem se precisa questionar se a polícia espelhou o conteúdo dos computadores e calculou a hash da imagem resultante, porque até mesmo providências muito mais básicas do que essa - como documentar o que foi feito - foram ignoradas pela autoridade policial.
Salienta-se, ainda, que antes mesmo de ser periciado pela polícia, o conteúdo extraído dos equipamentos foi analisado pela própria instituição financeira vítima. O laudo produzido pelo banco não esclarece se o perito particular teve acesso aos computadores propriamente ditos, mas diz que recebeu da polícia um arquivo de imagem. Entretanto em nenhum lugar há a indicação de como a polícia extraiu a imagem, tampouco a indicação da hash respectiva, para que fosse possível confrontar a cópia periciada com o arquivo original e, assim, aferir sua autenticidade.
Por conseguinte, os elementos comprometem a confiabilidade da prova: não há como assegurar que os elementos informáticos periciados pela polícia e pelo banco são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu, o que acarreta ofensa ao art. 158 do CPP com a quebra da cadeia de custódia dos computadores apreendidos pela polícia, inadmitindo-se as provas obtidas por falharem num teste de confiabilidade mínima; inadmissíveis são, igualmente, as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º, do CPP.
EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855-AL, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 6/2/2024, DJe 8/2/2024.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.
Embora a aplicação do princípio in dubio pro societate seja admitida tanto pela doutrina quanto pelos Tribunais, a Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII), o in dubio pro reo.
Destaca-se a existência de uma corrente crítica do princípio em discussão, cujo posicionamento é constitucionalmente mais adequado, a exemplo da recente decisão do STF no HC 227.328/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes consigna que: "O suposto "princípio in dubio pro societate", invocado pelo Ministério Público local e pelo Tribunal de Justiça não encontra qualquer amparo constitucional ou legal e acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova."
A doutrina também preconiza que o in dubio pro societate "não é compatível com o Estado Democrático de Direito, onde a dúvida não pode autorizar a acusação, colocando uma pessoa no banco dos réus".
Nessa linha, esta Corte Superior já entendeu que "A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes." (REsp 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2023).
Há de se reconhecer, portanto, que o princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.
Ademais, sob tal panorama, no que tange ao in dubio pro societate, o STF também já decidiu que, "se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.
Destarte, os motivos que conduzem necessariamente à inaplicabilidade do in dubio pro societate em fase de pronúncia devem prevalecer de modo a evitar que o juízo sumariante do Tribunal do Júri submeta o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença com base em provas potencialmente contraditórias entre si.
No caso, o Tribunal de origem faz notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados no âmbito do inquérito policial para fundamentar a pronúncia do acusado, reforçando a sua argumentação, inclusive, com entendimento já superado nesta Corte.
Ora, o entendimento atual do STJ é no sentido de que "a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco, em depoimento de ouvir dizer" (AgRg no HC 830.464/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/11/2023).
No Estado Democrático de Direito, a legitimidade da fundamentação das decisões judiciais decorre, também, do exame das provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, o que não ocorre, em regra, com a prova produzida extrajudicialmente.
Consequentemente, depreende-se que a decisão de pronúncia, quando restar fundamentada exclusivamente com base em elementos informativos obtidos em fase inquisitorial, representará flagrante ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao Princípio da Presunção de Inocência. Não se pode atribuir maior juridicidade ao inquérito policial, procedimento administrativo realizado sem as citadas garantias, em prejuízo do processo penal, vetor de princípios democráticos e garantias fundamentais.
RHC 55.940-SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018.
DIREITO PENAL
O comprador da suposta influência não é sujeito ativo do crime de exploração de prestígio.
Dispõe o art. 357 do Código Penal que, para a configuração do delito de exploração de prestígio, deve o agente "Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha".
Ao conceituar referido preceito de regência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de afirmar que "O crime de exploração de prestígio é, por assim dizer, uma 'subespécie' do crime previsto no art. 332 do Código Penal (tráfico de influência). É a exploração de prestígio, a venda de influência, a ser exercida especificamente sobre pessoas que possuem destacada importância no desfecho de processo judicial" (APn 549/SP, rel. Ministro Felix Fischer, DJe 18/11/2009).
Nesse sentido, é dizer, conforme o entendimento da doutrina clássica, que o dolo, em delitos dessa natureza, "consiste na vontade conscientemente dirigida à obtenção de vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em funcionário público em ato de ofício". Assim, a exegese que se extrai da norma inserta no art. 357 do CP - na linha intelectiva da doutrina majoritária -, não permite equiparar a conduta de quem "compra" o prestígio àquela a que alude o tipo penal, sob pena de se malferir um dos princípios mais costumeiros do direito penal, qual seja, o da legalidade estrita.
Ademais, afirma ainda a doutrina sobre o tema que o sujeito passivo desse crime "é o Estado, pois ofendida é a administração pública [rectius: da Justiça]. Secundariamente é também vítima o comprador de prestígio, mas prestígio vão, fraudulento e inexistente. É ele que sofre prejuízo concreto ou material, com a vantagem obtida pelo vendedor de fumo. Dá-se aqui o que se passa na fraude bilateral, no estelionato [...] Não obstante a conduta ilícita do comprador de influência, não pode ele ser também sujeito ativo do crime, como alguns pretendem, conquanto sua conduta seja imoral. Realmente, ele se crê agente de um crime de corrupção em co-autoria com o vendedor de prestígio, mas dito crime não existe, é putativo [...]".
Dessa forma, a adoção de métodos interpretativos que refogem aos limites da estrita legalidade, como o da analogia, importará, inevitavelmente, conforme bem pontuado pelo Supremo Tribunal Federal, na "[...] insegurança do direito. Nem mesmo poderá subsistir um nítido traço distintivo entre o injusto penal e o fato lícito, o texto expresso da lei cederá lugar à sensibilidade ética dos juízes, acaso mais apurada que a moral média do povo. Além disso, haverá o grave perigo de expor os juízes, na criação de crimes ou na imposição de penas a pressões externas, a paixões dominantes no momento, às sugestões da opinião pública, nem sempre bem orientada ou imparcial" (HC 50533/RS - relator Min. Bilac Pinto, Tribunal Pleno, Julgamento: 25/4/1973).
No caso, a denúncia não se desincumbiu de descrever nenhum comportamento típico do acusado, comportamento esse conhecido como o de "vendedor da fumaça" (venditio fumi), sob o qual poderia exercer a famigerada "influência jactante", caracterizadora da exploração de prestígio. Ao revés, a incoativa descreve a conduta do recorrente como a de um "comprador de fumaça", dessumindo-se, daí, que a denúncia o equipara à figura de vítima. Assim, diante da manifesta atipicidade da conduta, deve ser trancada a ação penal.
AgRg no RHC 150.343-GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 15/8/2023, DJe 30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Ilicitude de gravação ambiental com a participação da polícia ou do Ministério Público sem prévia autorização judicial. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sob a égide da Lei n. 9.034/1995 (redação dada pela Lei n. 10.217/2001). Participação do órgão acusador. Fornecimento de aparato de gravação. Ilicitude da prova. Superação de entendimento anterior.
A participação dos órgãos de persecução estatal na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem prévia autorização judicial, acarreta a ilicitude da prova.
Cinge-se a controvérsia à validade da captação ambiental realizada por particular sem o conhecimento do interlocutor e com o auxílio do Ministério Público ou da polícia. O parâmetro normativo, no caso, deve ser a Lei n. 9.034/1995, tendo em vista que vigente à época da produção da prova em questão.
A gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não protegida por um sigilo legal (QO no Inq. 2116, Supremo Tribunal Federal) é prova válida. Trata-se de hipótese pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois se considera que os interlocutores podem, em depoimento pessoal ou em testemunho, revelar o teor dos diálogos.
No entanto, a produção da prova obtida com colaboração de órgãos de persecução penal deve observar as fórmulas legais, tendo em conta a contenção da atuação estatal, cingindo-o, por princípio, às fórmulas do devido processo legal. Ao permitir a cooperação de órgão de persecução, a jurisprudência pode encorajar atuação abusiva, violadora de direitos e garantias do cidadão, até porque sempre vai pairar a dúvida se a iniciativa da gravação partiu da própria parte envolvida ou do órgão estatal.
A norma vigente à época, Lei n. 9.034/1995, com redação dada pela Lei n. 10.217/2011, exigia, expressamente, para captação ambiental, "circunstanciada autorização judicial" (art. 2º, IV).
A participação do Ministério Público na produção da prova, fornecendo equipamento, aproxima o agente particular de um agente colaborador ou de um agente infiltrado e, consequentemente, de suas restrições. Sem contar que, mesmo se procurado de forma espontânea pela parte interessada, é difícil crer que o Ministério Público não oriente o interlocutor no que concerne a conduzir a conversa quanto a quais informações seriam necessárias e relevantes, limitando-se apenas a fornecer o equipamento necessário para a gravação.
Desse modo, a participação da polícia ou do Ministério Público na produção da prova exerce a atração dos marcos legais, que, no caso, repita-se, exigiam "circunstanciada autorização judicial". Não obtida a chancela do Poder Judiciário, opera a regra de exclusão, pois a prova em questão é ilícita.
Por fim, esse reposicionamento ainda antevê debate sobre o teor do § 4º do art. 8º-A da Lei n. 9.296/1996, inserido pela Lei n. 13.964/2019, que reabre discussão acerca da amplitude da validade da captação ambiental feita por um dos interlocutores. Tal dispositivo não se aplica ao caso, mas busca restringir esse meio de prova, considerando que essa prova só será válida sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público.
HC 598.051-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência em caso de flagrante delito. Flagrante. Domicílio como expressão do direito à intimidade. Asilo inviolável. Exceções constitucionais. Interpretação restritiva. Ingresso no domicílio. Exigência de justa causa (fundada suspeita). Consentimento do morador. Requisitos de validade. Necessidade de documentação e registro audiovisual da diligência. Ônus estatal de comprovar a voluntariedade do consentimento em caso de dúvida.
Em caso de flagrante delito, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.
O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.
A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
Saiba mais:
HC 829.723-PR, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 12/12/2023, DJe 15/12/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória na hipótese em que, injustificadamente, a acusação deixa de produzir prova que poderia comprovar a tese defensiva ou colocar o réu a salvo de quaisquer dúvidas em relação à versão acusatória.
No caso, contatou-se que o reconhecimento realizado em solo policial não observou o art. 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, logo após o roubo, os agentes da persecução penal compareceram ao local e mostraram algumas fotos às vítimas, que teriam reconhecido o paciente.
No entanto, não se sabe a quantidade de fotografias que foram apresentadas aos ofendidos, tampouco se os policiais cuidaram de, primeiro, exigir a descrição das características físicas dos agentes. Também não houve a materialização do reconhecimento em auto formal, como determina o art. 226, inciso IV, do Código de Processo Penal ("do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais").
Assim, no cenário fático-processual em que nenhum outro elemento probatório válido (independent source), além das declarações prestadas pela vítima, indicam a autoria delitiva, é devida a absolvição, pois segundo o que se sedimentou no STJ, o reconhecimento fotográfico realizado sem respeito ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que confirmado em juízo, se não conjugado com outras provas, é insuficiente para a formação do juízo condenatório.
Ainda, constatou-se que no depoimento prestado na fase extrajudicial, a vítima informou que a ação criminosa teria sido filmada por câmeras de segurança do ônibus e que as imagens poderiam ser solicitadas na sede da empresa de ônibus. O policial miliar, por sua vez, também informou que, segundo relato das vítimas, "havia um veículo gol bola branco que parou em frente ao ônibus e prestou apoio na fuga dos indivíduos".
Dessa forma, as imagens das câmeras de segurança e a apuração sobre o veículo envolvido no roubo seriam de importância salutar para o deslinde do feito, pois, considerando-se que o paciente negou o envolvimento no crime, a filmagem poderia comprovar a tese defensiva ou até mesmo colocar a salvo de quaisquer dúvidas a versão acusatória.
Embora, ao oferecer denúncia, tenha o Parquet requerido a expedição de ofício à empresa de ônibus para o fornecimento das imagens das câmeras de segurança, a referida diligência não foi cumprida e não houve outras tentativas de obtenção da referida prova, frise-se, de suma importância no contexto em exame.
Essa conjuntura processual configura o que a doutrina processualista-penal denomina de "perda de uma chance probatória", a qual preconiza que: "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída. E é justamente no conteúdo dos parênteses que reside o grande problema: como ter certeza de que a prova que não foi produzida não colocaria abaixo a tese acusatória?".
Assim, é devida a absolvição, seja pela inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento do réu, seja pela não produção de prova salutar para o deslinde do feito que, injustificadamente, não foi produzida pela acusação.
Saiba mais:
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, por maioria, julgado em 22/8/2006, DJe 19/11/2007.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
É nula a quebra de sigilo fiscal que não demonstra o fumus commissi delicti, mas, ao contrário, busca colher mínimos elementos necessários à investigação.
Segundo a doutrina, o processo penal já configura, em si mesmo, uma pena para o réu. Os rigores da persecução penal são deveras estigmatizantes, daí a necessidade de cuidado no seu trato. Desde que se optou por um modelo de Estado de cariz democrático, em que se assinala a dignidade da pessoa humana como seu fundamento, toda intervenção na esfera íntima do cidadão deve ser encarada como exceção. Somente se justifica tal procedimento em caso de necessidade e atendendo-se aos requisitos legais, faticamente demonstrados.
No caso, cuida-se de procedimento investigatório criminal em curso no Ministério Público Federal para elucidação de crime de evasão de divisas, perpetrado por meio de contas CC-5. O requerimento ministerial (decretação de quebra de sigilo fiscal com o fim de colher mínimos elementos necessários à investigação) e a decisão que determinou a quebra de sigilo fiscal dos investigados carecem de fundamentação.
A decisão de quebra do sigilo fiscal não se lastreou nos requisitos de cautelaridade. O acórdão do habeas corpus impetrado perante o TRF também foi proferido com argumentos vagos, sem amparo em dados fáticos que pudessem dar azo a procedimento tão drástico, com a invasão da intimidade do cidadão.
Não se pode aceitar também o argumento constante do parecer do Ministério Público Federal de que "não há outra linha de investigação possível". Fosse assim, as portas estariam abertas para o poder estatal devassar a intimidade de todos, sem peias. Deve-se partir do fato para se alcançar a autoria. Não se admite investigar a vida dos cidadãos para, a depender da sorte, encontrar algum crime.
Sobre o tema, este Superior Tribunal é extremamente rigoroso na preservação dos direitos e garantias fundamentais ao afirmar que "O direito aos sigilos bancário e fiscal não configura direito absoluto, podendo ser elidido se presentes indícios ou provas que o justifiquem, desde que devidamente demonstrados na decisão do Magistrado. Decisão, in casu, sem fundamentação, em flagrante violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal." (HC 17.911 / SP - Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 4.3.2002).
Portanto, a quebra violou o comando constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal. A disciplina sobre as informações fiscais é clara: em princípio, o acesso é vedado; salvo, se concorrem os requisitos próprios de cautelaridade. Não foi declinado o fumus commissi delicti, pelo contrário, decretou-se a quebra a fim de buscá-lo. Não se delineou qual teria sido a suposta conduta de cada um dos pacientes, de forma a legitimar a medida extrema.
Por fim, registre-se, se ao longo das investigações surgirem elementos a corporificar o fumus commissi delicti e indícios de autoria, aí sim, também a depender de acurada fundamentação, será possível efetivar-se a medida constritiva.

